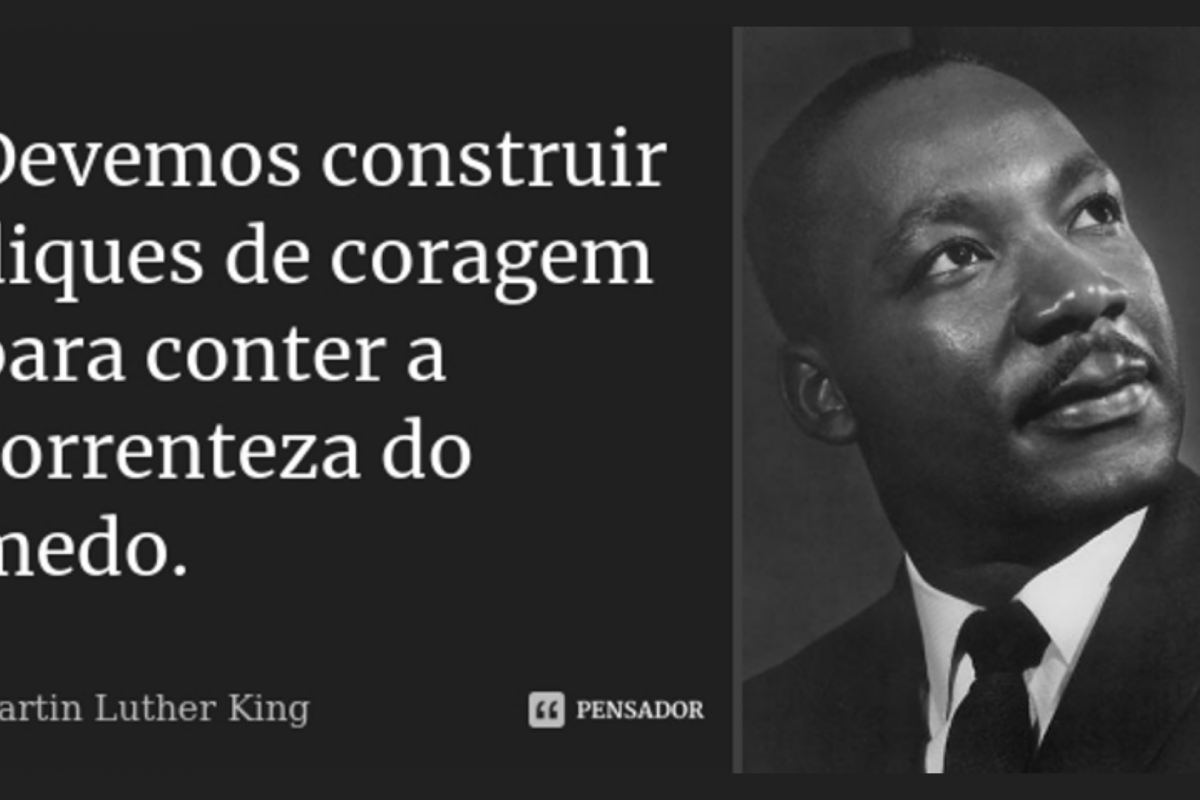Por Marco Aurélio da Conceição Correa
Mas depois da ilusão, coitado
Negro volta ao humilde barracão
Negro acorda é hora de acordar
Não negue a raça
Torne toda manhã dia de graça
(Dia de graça – Candeia)
Quando até o direito de brincar é interrompido por um genocídio em curso, ignorar a existência de uma política de mortes chega a beirar a insanidade. Em uma sociedade anestesiada pelo medo, tais políticas de mortes são justificáveis em nome da ordem, da economia e da estabilidade financeira.
Vivemos tempos de aprimoração do liberalismo clássico onde acredita-se que basicamente um indivíduo só pode encontrar a plenitude através de sua própria iniciativa. Tais crenças desencadeiam nacionalmente um grande discurso pelo empreendorismo que criam um senso de aversão à representação política estatal, onde imposto é roubo e assistência social é migalha.
Frustrada pelas recentes crises brasileiras a classe média nutre um medo a alteridade que culpabiliza as classes menos privilegiadas por sua própria situação, tal fenômeno cria um senso de mal estar contemporâneo que gera uma onda crescente de psicoses por todas classes sociais brasileiras. Nas classes médias “esta forma de constituição do outro, a partir de si mesmo, é uma forma de medo que traz em sua gênese a paranoia”, aponta a Cida Bento (2002, p. 35) [1], neste estado de medo generalizado prepara-se um terreno para políticas de rivalidade, onde o inconscientemente se confunde o medo ao semelhante ao medo a si próprio.
“Uma coletividade, em geral incitada pela sua elite, posiciona-se como vítima e justifica antecipadamente os atos que não deixará de executar. Imputando aos acusados toda espécie de crimes e de vícios, ela se purifica de suas próprias intenções turvas e transfere para outrem o que não quer reconhecer em si própria” (BENTO, 2002, p. 38-39).
A psicose da paranoia “é uma manifestação distorcida em que o medo existe independente da ameaça e é exacerbado como fator preditivo de ameaça. Ou seja, a pessoa paranoica sente-se ameaçada em qualquer situação” (BENTO, 2002, p. 35). Na fantasiosa guerra contra um inimigo invisível, imaginário as pessoas a tomar atitudes que botam em risco de contaminação toda a sociedade. As elites que dominam o Brasil em diferentes de atuação agem num ato inconsequente de encurralar uma categoria da população no desconforto material e psíquico. Nesta recusa de “relação” não pode deixar de gerar medo e ódio” (BENTO, 2002, p. 37).
Semeando o ódio as pessoas acabam sendo seduzidas pelo primeiro discurso redentor que encontram. Sem pensar muito no messias que seguem, calamidades como a morte de milhares de pessoas acabam sendo apenas uma triste consequência.
Tempos como esses nos fazem pensar em como outras sociedades organizavam a sua vida distante da obsessão pelo progresso e na produtividade, temos na sociedade brasileira ainda reflexo das civilizações – indígenas e africanas – que ainda escoam seus sentidos de mundo em nossos cotidianos. Krenak é um exemplo destes que traduzem esse pensamento mágico da vida em comunidade. Não que as sociedades tradicionais vivessem uma panaceia democrática e nem que não existisse um senso de trabalho incutido nelas, a grande diferença é que elas não possuíam o senso predatório como princípio gerador de suas políticas civilizatórias.
O desprezo a esse tipo de organização civil nos faz com que em tempos de ultraneoliberalismo atividades que não tenham uma relação direta com o lucro econômico sejam vistas como irrelevantes, como atraso. Bem no estilo do conto da formiga e da cigarra, a sociedade brasileira, não só suas elites, caem nesse tipo de fábula onde só o trabalho dignifica o homem. O que faz que cada vez mais pessoas pensem mais no trabalho, no sustento, do que na própria vida. Paulatinamente normalizamos pessoas sendo forçadas a aceitar trabalhos que botem em risco a sua vida no desespero de botar o que comer na mesa de casa. Esta atitude que beira o suicídio é mais um sinal da psicose coletiva que vivemos atualmente.
A redenção pelo trabalho é um trauma da sociedade brasileira originada desde sua gênese escravocrata. Wallace Lopes define o trauma do tronco como mito civilizatório brasileiro:
“Por esta razão, indo na via desta perspectiva, é necessário examinar a natureza do trauma do tronco como regimento de violência na ação da existência de não sujeitos, que foram coisificados por somas de opressão. Caso pareça evidente, o trauma do tronco no Brasil é e foi um mecanismo psíquico da violência do Estado brasileiro e inibiu qualquer possibilidade de existência e de ações pela liberdade do povo preto. Com isto, o exibicionismo por meio do uso da violência pública, tornou-se espetáculo pedagógico do horror dos corpos pretos açoitados no pau de arara, configurando um currículo pedagógico abusivo do uso da violência enquanto ditame simbólico do poder branco sobre esses corpos interditados” (SILVA, FIGUEIREDO, 2020, p. 3).
Aqui o tronco age como um duplo torturador: gerando tanto a angústia pelo medo do açoite, como a dor de torturar si próprio ao tentar fugir da ameaça. Sem simbolismos, ou se é torturado por não trabalhar ou se tortura trabalhando. Na coisificação de corpos negros, mesmo com o fim da abolição são lapidados continuamente virtudes de mulheres e homens negros que se esforçam como animais para redimir a culpa judaica e cristã imposta a eles. Assim, “o corpo negro só poderia alcançar vias da virtude intelectual e platônica a partir do condicionamento físico e brutal para se tornar domesticado e dócil. Tal conformidade se apresenta como interesse comercial das estruturas de valor das elites que lucram duplamente com o trauma do tronco: tendo trabalhadores fies, dóceis e reguladores de qualquer desviante desse tipo de política” (SILVA, FIGUEIREDO, 2020, p. 5) [2]. Desde o fim da escravidão, sinônimo de não trabalhar é vadiagem, vide as institucionalizações da repressão aos malandros.
A escravidão ensinou as pessoas negras a sobreviver, mas não ensinou elas a viver. Curioso é pensar que mesmo depois de séculos de trabalho forçado nas lavouras, quando o assunto são contribuições ao que conhecemos como Brasil hoje negras e negros não são lembrados pelo gigantesco trabalho, mas sim pelo samba, capoeira e futebol, atribuindo assim uma carteirinha de cidadania lúdica para estes brasileiros que ainda são estereotipados como vadios e preguiçosos.
Para o patriarcado atividades que não tenham relação direta com o lucro econômico são tidas como moralmente inferiores, impróprias. Existem muito mais coisas entre o vadio e o artista, o gênio e o louco, a criança e o adulto do que se pode perceber. Qualquer atividade que necessitasse de uma sensibilidade maior, como o brincar, é vista como ociosa e por isso deve ser evitada. E não é à toa que as populações negras que vivem a experiência da diáspora tendem a sofrer mais com essas relações mais afetuosas, como a intelectual bell hooks aponta: “nossas dificuldades coletivas com a arte e o ato de amar começaram a partir do contexto escravocrata (2002, p. 189) [3]. Vivendo para o trabalho e fugindo do tronco, gerações e gerações de famílias negras se impediram de ir além do que a branquitude delimitava para eles. Resistir ao auto açoitamento era visto como uma característica de personalidade forte, não demonstrar e expressar os sentimentos também. Silenciar e mascarar nossas dores foi uma forma de sobrevivência que nos distanciou e ainda distancia de nossas potências.
A questão aqui é o contrário das reinvindicações do movimento feminista original enquanto mulheres brancas lutavam pelo direito de trabalhar, mulheres negras queriam o contrário. Elas queriam estudar, criar, viver e curtir com suas famílias a vida que o trauma do tronco as impediu. Homens e mulheres negras reivindicavam esse direito. Por isso a felicidade de muitos cotistas ingressantes nas faculdades públicas, uma conquista importante na subversão da divisão do trabalho.
Essa devoção excessiva criada pelo trauma do tronco faz com que exista uma carência gigantesca no campo das produções artísticas para a população negra, englobamos aqui como artes desde os antigos pintores renomados, como até os atuais criadores de conteúdo da internet. Pode parecer bobeira, mas essa situação é só mais um reflexo do complexo de inferioridade que desola a autoestima de milhões de brasileiros. Nos estudos de psicanalise da teoria freudiana sabemos a importância da identificação desenvolvimento da autoestima, um povo sem amor interno é um povo alienado.
No pacto narcísico, cunhado por Cida Bento, que se autopreservação os privilégios da branquitude. A ausência de um Spike Lee brasileiro não é uma coincidência. Renata Martins apontou que o cinema brasileiro é um cinema de herdeiros e podemos pensar nessa permanência de privilégios em outras cadeias de produção de narrativas. E se tivéssemos um cinema de ancestralidade que representasse e impulsionasse os anseios da população negra brasileira? Quanto dinheiro não poderia circular, como o caso de nollywood, se existissem organizações que conseguissem desenvolver um trabalho de escala nacional? Já reconhecemos a importância das artes em momentos de crise.
Devido a essa impossibilidade de desenvolvimento subjetivo pelo trauma do racismo, as elites dominantes continuam a controlar as narrativas que significam os cotidianos da parcela marginalizada do Brasil. Esse deslocamento de um inconsciente coletivo suscitado pelas políticas de escassez, fazem com que comunidades historicamente associadas ao senso de coletividade, comunhão acabem se desestruturando. Propositalmente, o investimento em certos tipos de tecnologia, como a bélica, foi o que proporcionou que europeus colonizassem todo o mundo. Quanto menos tecnológico, mais fácil de colonizar, é a perca da soberania de si.
Esta dominação não se limita ao caráter político e econômico, num processo simbiótico e cíclico inconscientes são controlados. Esse é o sucesso da colonização, até nosso inconsciente é colonial, afirma o psicólogo Lucas Veiga. Somos forçados a esquecer nossas tradições ancestrais: quantos cientistas, engenheiros, médicos em potencial que poderiam estar revolucionando nossas tecnologias são ceifados todos os dias pelas políticas de morte?
Não nos cabe aqui um papel demagógico de continuar com a pedagogia do terror ao tronco de culpabilizar a própria sociedade marginalizada pelo seu destino, isso seria se aproximar dos ideais baratos da meritocracia eleitoreira.
Apesar de todas dificuldades já encontramos movimentos coletivos que quebram as correntes dessa cadeia de violência, diversas instituições, organizações e propostas protagonizadas por pessoas negras e periféricas estão sendo mais pontuais do que o estado em proporcionar políticas para tais comunidades. Estes movimentos autônomos dão continuidade a prática de aquilombamento herdada da experiência da diáspora. Estas práticas de cuidado começam com a capacidade de nos reconhecer e afirmar,
“E num contexto de pobreza, quando a luta pela sobrevivência se faz necessária, é possível encontrar espaços para amar e brincar, para se expressar criatividade, para se receber carinho e atenção. Aquele tipo de carinho que alimenta corações, mentes e também estômagos. No nosso processo de resistência coletiva é tão importante atender as necessidades emocionais quanto materiais” (HOOKS, 2002, p. 193)
“O amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar” (HOOKS, 2002, p. 196), mas isso não quer dizer que nem só de amor nos vamos viver, pois só infelizmente amor não enche a barriga, como nos ensinou Carolina Maria de Jesus. Porém, esse processo de autoconhecimento é o necessário para potencializar a nossa pulsão palmarina. Pulsão essa de desejo de liberdade do mesmo jeito que sentiu Zumbi dos Palmares. Pulsão que nos impulsiona à violência, não a do martírio, do sacrifício e nem da vingança, mas violência para destruir o patriarcado, “a violência anticolonial é uma violência criadora” (VEIGA, 2019, p. 244).
É com essa pulsão que deixaremos de ter pesadelos com o trauma do tronco e voltaremos a sonhar com a liberdade, diferente de um sonho egoísta e de falsas promessas de prosperidade, podemos transformar o desejo inconsciente coletivo em realidade e finalmente poderemos sonhar com manhã de graça para nossa nação. O encontro entre negros e negras é cura (VEIGA, 2019, p. 248) [4].
Marco Aurélio da Conceição Correa é professor da rede municipal do Rio de Janeiro (SME-RJ). Mestrando em Educação no Programa de Pós Graduação em Educação (PROPED-UERJ). Pós Graduando em Ensino de História da África (PROPGPEC).
Fonte: Justificando, 27/05/2020.