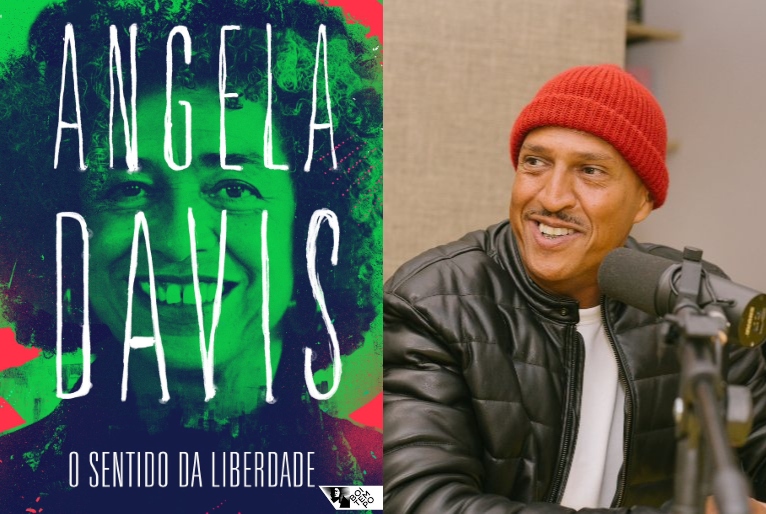Por Juliana Domingos de Lima
Nascida em Lisboa e radicada há mais de uma década em Berlim, a artista e teórica Grada Kilomba tem um trabalho que se ramifica em várias frentes.
Com formação acadêmica em psicologia e psicanálise, ela atuou durante anos como professora universitária, publicou livros, trabalhou em instituições de arte e expôs obras em grandes museus ao redor do mundo. Em outubro de 2020, a Tate Modern (Londres) — um dos principais museus de arte moderna e contemporânea da Europa — anunciou a aquisição de duas de suas obras, uma consagração importante de sua produção artística.
Entre suas preocupações centrais está a continuidade da violência colonial por meio do racismo, tema do livro “Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano”, lançado no Brasil em 2019 e livro mais vendido na Flip daquele ano. Mas a produção da artista vai além de expor as mazelas da história colonial e busca desmantelar, revisar e recontar essa história.
“Acho que a arte transforma sociedades. E acho que por uma razão muito simples: ela pode ser e deve ser política, mas no meu entender não é moral”, disse Grada Kilomba, 53, em entrevista a Ecoa. Para ela, a arte consegue dialogar de maneira mais profunda com o público do que outras disciplinas. Faz com que as pessoas levantem questões sobre o mundo a sua volta e sobre a ordem colonial imposta há 600 anos e que, desde então, foi naturalizada.
Ecoa – Você critica a construção de conhecimento tradicional e busca romper com ela na sua produção acadêmica e artística. O que essa produção tem a ver com o colonialismo?
Grada Kilomba – A produção de conhecimento, assim como a linguagem, como o vocabulário, está ancorada em uma história colonial. E serve a uma história colonial, patriarcal, de homofobia, que exclui uma série de identidades e de corpos. Uma série de disciplinas foram criadas exatamente para apoiar essa história colonial. A filosofia, a psicologia, a etnologia, a antropologia, a pintura, o cinema, o teatro. Não há nenhuma disciplina que nós usamos hoje que não tenha sido instrumentalizada e criada para produzir um discurso sobre o outro, para definir quem é o nós em relação ao outro.
É quase impossível trabalhar com qualquer disciplina ou falar numa linguagem, com um vocabulário que não esteja ancorado na história colonial, que é uma história de 600 anos. E que cria uma hierarquia entre humanidades, entre os vários corpos humanos, tornando certos corpos os verdadeiros representantes da condição humana, enquanto outros são marginalizados e colocados numa plataforma sub-humana.
A produção de conhecimento está baseada numa relação de poder e de violência. Isso é a primeira parte. A segunda parte é que nós temos que ter em conta que o acesso à produção de conhecimento foi negado à maior parte dos seres humanos. O seu conhecimento foi invalidado.
Portanto, a produção de conhecimento que nós conhecemos através dessas disciplinas é mínima em relação à humanidade. Há uma série de vozes e de corpos que não puderam fazer parte dela. Isso é o outro lado da moeda: não só o conhecimento cria uma hierarquia entre a condição humana, como grande parte dos humanos não puderam fazer parte dessa produção de conhecimento.
Como fazer as coisas de outra maneira?
Para mim, o que é mais fascinante é exatamente desmantelar essas disciplinas. É pensar e entender que, como artista, eu não quero, nem preciso, nem posso usar as linguagens que me colocaram como outra, como inferior no discurso. Portanto, para criar uma narrativa, para criar uma imagem, eu tenho que ter a liberdade e um espaço, uma plataforma experimental para criar uma nova linguagem que não está lá, que não é igual à linguagem que me foi dada, porque a linguagem que me foi dada coloca-me sempre fora da minha humanidade.
Nós estamos num momento em que temos a liberdade, mas também quase a obrigação de desobedecer às linguagens que nos foram dadas. É importante fazer isso. É importante criar novos discursos, novas narrativas, novas imagens, novos movimentos.
A vontade de recontar mitos gregos tem alguma relação com isso?
Exatamente. Minha trilogia sobre isso se chama “O mundo das ilusões”. Primeiro, eu acho a mitologia grega e todas as mitologias encantadoras. São histórias que revelam a tragédia humana, que colocam questões muito humanas: decisões, conflitos, medos, desejos, angústias. A mitologia coloca toda a psicologia humana num roteiro e numa encenação que eu acho absolutamente fascinante.
O que é interessante é ver quais são as histórias que são contadas, como são contadas e contadas por quem. A mitologia é tão complexa e tem tantas associações e tantas metáforas e imagens que pode ser desmantelada de muitas maneiras diferentes.
E, dependendo destas perspectivas, vêm uma série de outras revelações e outras partes da história que até agora foram silenciadas. Isso é que eu acho fascinante. Aquilo que parecia que já estava esgotado, contado, dependendo das artistas que contam, que olham pras histórias, conseguem revelar uma outra história que sempre esteve lá, mas que para a audiência é sempre uma surpresa, porque nunca pensou que a história de Édipo tem a ver com a política da violência, ou que a de Narciso tem a ver com a política da invisibilidade ou a de Antígona tem a ver com a morte, com a cerimônia, e com a produção de memória.
“E isso é o que eu mais adoro fazer: rever, recapitular a produção de conhecimento. Essa ideia de que nós pensamos que conhecemos, e que através de uma obra artística consegues revelar algo ao teu público que ele nunca tinha visto. Ele pensava que já sabia tudo e, afinal, nós sabemos tão pouco.”
Qual o papel da sua arte nesse projeto de desmantelamento? A arte pode transformar mentalidades e sociedades?
Eu acho que a arte pode transformar. Que a arte e a literatura transformam sociedades. E acho que por uma razão muito simples: o que é mais fascinante na arte é que ela pode ser e deve ser política, mas, no meu entender, não é moral. Acho que é muito importante criar um diálogo com o teu público sem um senso de moralismo.
O que a arte consegue é tocar em questões que às vezes são muito complexas e trágicas, e não necessariamente dar respostas ao público, mas levantar perguntas, questões. Isso eu acho que é um dos trabalhos mais profundos que a arte tem. É que alguém pode visitar uma exposição no museu, uma instalação de vídeo e quando sai dessa sala, sai com questões que não estavam antes. E as questões são levantadas de uma forma metafórica e associativa que te leva a questionar o que tu sabes e o que tu não sabes, e por que não sabes. É quase um trabalho psicanalítico em que, sem impor, sem a questão da moral e de dar uma resposta imediata, o público sai com perguntas que não estavam antes e eu acho que isso é uma das tarefas mais transformativas da arte.
Fui professora universitária durante muitos anos em várias universidades internacionais e uma das coisas que me cansava é esse papel de dar uma resposta a tudo, que cria uma relação de poder entre quem fala e quem escuta. Me cansava essa função de ser uma enciclopédia, de saber tudo e dar a resposta certa a tudo. Eu apercebi-me que muitas das vezes as respostas ficam dentro da cabeça [dos alunos], a um nível cognitivo, intelectual, mas não entram no corpo e não são vivenciadas. Já a arte, a performance, a literatura entram num mundo mágico, metafórico, em que o público consegue entrar e por isso tem essa força.
Tanto o circuito de arte quanto a academia são espaços de poder bastante eurocêntricos. Como tem sido sua experiência em navegá-los?
Eu não viajo em dois lugares. Eu acho que tenho um trabalho que pode ser colocado em qualquer lugar e em lugar nenhum, e eu gosto disso [risos]. Às vezes as pessoas não sabem onde colocar o meu trabalho, e eu acho que isso revela também o lado subversivo do trabalho. Eu vou saltando de uma plataforma para outra e, para dizer a verdade, todos os meus trabalhos estão em qualquer plataforma.
Uma das funções que nós temos hoje é exatamente de desmantelar esse poder de certas plataformas e embaralhar as políticas, dizer que as histórias são contadas de uma forma tão transdisciplinar que podem ser colocadas em qualquer lugar, em um livro, em cima do palco, numa instalação de vídeo, na rua, numa casa de ópera. Eu gosto de incorporar essa transdisciplinaridade, de atravessar várias plataformas, vários espaços e várias disciplinas, então eu trago a escrita, a psicanálise, a encenação, a imagem, o filme, a voz. Isso pra mim é o que é descolonizar o conhecimento.
É quando, de repente, já não entendemos aquilo que nós pensávamos que entendíamos, é quando nós começamos a atravessar da periferia para o centro e é quando os nossos corpos estão em lugares que não são esperados, quando as nossas vozes são ouvidas onde não é esperado. E isso é o que faço.
O que eu acho interessante é que na arte contemporânea tudo é possível. E por isso também é que opto por usar a arte contemporânea como minha plataforma de prática, porque é possível errar, experimentar. Tudo é válido.
Na carta que acompanha a edição brasileira do seu livro, você comenta que ele levou uma década para chegar a Portugal e ao Brasil. Que mudanças recentes permitiram que ele fosse finalmente traduzido e publicado em português?