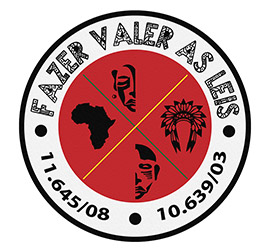Por Fabio Nogueira
O agravamento das crises geradas pelo capitalismo trazem a questão racial para o centro do debate sobre o futuro que queremos – o que exige que toda classe trabalhadora compreenda o papel da identidade na estratégia de luta e resistência.
“(…) Exu
tu que és o senhor dos
caminhos da libertação do teu povo
sabes daqueles que empunharam
teus ferros em brasa
contra a injustiça e a opressão
Zumbi Luiza Mahin Luiz Gama
Cosme Isidoro João Cândido
sabes que em cada coração de negro
há um quilombo pulsando
em cada barraco
outro palmares crepita
os fogos de Xangô iluminando nossa luta
atual e passada(…)”
(Padê de Exu Libertador, Abdias do Nascimento)
No atual cenário global, onde o neofascismo ascende como uma resposta reativa a crises sociais e econômicas do capital, a esquerda enfrenta um dilema em sua estratégia de resistência. De um lado, há aqueles que acreditam que o enfrentamento ao neofascismo deve ir à raiz de suas causas, ou seja, à crise econômica do capitalismo.
Essa vertente defende um núcleo de propostas e medidas que se concentrem no combate às políticas neoliberais que aprofundam a desigualdade e a precarização da vida para a maioria da população. Para esse grupo, a luta contra o neofascismo é, antes de tudo, uma luta por condições econômicas dignas e justas, visando restabelecer os direitos sociais e trabalhistas que foram corroídos por décadas de políticas econômicas neoliberais.
Por outro lado, existe aqueles que consideram central o enfrentamento ao neofascismo por meio do combate ao racismo, machismo e homofobia. Para esses ativistas e intelectuais, a “luta identitária” é crucial, pois estas não são apenas consequências, mas partes integrantes do sistema neofascista. Eles argumentam que a negação das identidades, a violência de gênero e a discriminação racial são ferramentas usadas pelo neofascismo para dividir e conquistar, e que enfrentar essas opressões é essencial para desmantelar o discurso da extrema-direita.
Dentro dessa dualidade, uma distinção importante se faz presente: as pautas identitárias são frequentemente vistas como representativas das classes médias, enquanto as agendas anti-neoliberais e econômicas são tipicamente voltadas a perfis mais populares, mais diretamente afetados pela crise econômica. Essa separação gera tensões internas na esquerda, onde muitos afirmam que enquanto as classes médias buscam a inclusão e o reconhecimento de suas identidades, as classes populares estão mais preocupadas com a sobrevivência econômica e a dignidade do trabalho.
Essa divisão não apenas fragmenta a esquerda, mas também enfraquece o movimento diante do avanço neofascista. A extrema-direita explora essas fissuras para consolidar uma narrativa simplificada que deslegitima as demandas por reconhecimento identitário, apresentando-as como elitistas, ao mesmo tempo em que usa um populismo que promete devolver o poder ao “povo”, mas sempre à custa dos grupos marginalizados.
Eles apostam na radicalização do programa neoliberal – favorável a uma competitividade exacerbada – enxergando o estado não como um meio para um fim, mas como um obstáculo à plena realização humana, que, em última análise, do ponto de vista deles, nada mais é que a plena realização do capital.
Essa defesa é acompanhada por uma guerra cultural, uma disputa ideológica e de valores. Nesse contexto, tanto “liberais sinceros” quanto “economicistas de esquerda” convergem em uma falsa percepção de que há um campo econômico puro, isolado de outras esferas da vida social, cultural e política – nesse sentido, é importante tomar nota das críticas de Lênin contra os economistas russos (na verdade, economicistas russos) nos primeiros anos do século XX.
Em uma sociedade como a brasileira, caracterizada por um capitalismo dependente e formada por séculos de escravidão e colonialismo—onde, segundo estimativas, 40% dos africanos escravizados no mundo chegaram aqui—é fundamental, como fizeram pensadores clássicos como Florestan Fernandes, Clóvis Moura e Lélia Gonzalez, entender como esse fato moldou nossa sociedade de classes e seu impacto nas lutas sociais e políticas contemporâneas.
No entanto, é curioso que se aposte na ideia que Marx contestou: a de que a economia opera de forma independente de outras esferas, considerando-o apenas um economista político, e não um crítico da economia política. Dentro desse prisma, seriam “identitários” os sindicatos que lutam por melhores salários? Ou os sem-terra, que lutam pela reforma agrária? E os sem-teto, que buscam moradia? O que se vê, na verdade, é que eles são sujeitos históricos, portadores de pautas específicas e legítimas dentro de um contexto de luta por uma nova ordem social e política. Se essa não é a questão, precisamos olhar para as coisas sob outra perspectiva.
Nas encruzas das lutas, o bloco histórico
Diante desse cenário, talvez o mais essencial seja à esquerda voltar a se reconhecer nas encruzas das lutas, reabilitando a perspectiva gramsciniana de bloco histórico, da contra-hegemonia e da articulação entre estrutura e superestrutura. Um dos sintomas da derrota histórica da esquerda brasileira é um determinado setor desta se resignar ao purismo teórico do espaço acadêmico universitário – como a última fronteira de resistência do pensamento crítico – em detrimento a estabelecer a conexão desta crítica com a práxis vivida e sentida no cotidiano pelo proletariado, como construção histórica e política, em um país pós-escravista e de economia dependente como o Brasil.
Não faltam racionalizações para justificar esta postura: da burocratização dos partidos de esquerda aos sindicatos a uma espécie de dissonância cultural de uma classe trabalhadora que prefere samba, futebol e Carnaval a seminários sobre os Grundrisse. Uma estratégia alternativa à espécie de determinismo feuerbachiano deve envolver um diálogo entre as agendas políticas dos movimentos sociais e do pensamento progressista, articulando de forma crítica as lutas contra as opressões em seus diferentes quadrantes e o combate ao neofascismo. Como diria Marx nas Teses sobre Feuerbach:
A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na práxis que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o carácter terreno do seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isola da práxis é uma questão puramente escolástica.
É crucial estruturar propostas que respondam tanto à necessidade de justiça econômica quanto à luta contra todas as formas de discriminação, algo que a teoria marxista – e o próprio Marx quando se deteve a questão judaica, irlandesa, indígena, negra chinesa e indiana – deu sua contribuição – como mostrou bem Kevin Anderson no Marx nas margens: nacionalismo, etnias e sociedades não ocidentais, Jean Tible no Marx selvagem ou Marx e Engels na Guerra civil dos Estados Unidos.
Estamos diante de um debate espinhoso sobre vanguarda, bloco histórico e projeto político que requer mais que posts e vídeos inspirados. Em uma imaginação cada vez mais colonizada pelas Big Techs e os algoritmos das redes sociais, temos avançado pouco. Porém, essas questões só se articulam na práxis – só germinam nas lutas. O avanço não pode se basear em marketing ou slogans, mas sim em construções coletivas e espaços de luta permanente, o que demanda tempo, esforço e dedicação.
Infelizmente, boa parte daqueles que corretamente identificam a crescente institucionalização da esquerda e seu afastamento das bases e movimentos muitas vezes não se dispõem a ir a campo, como fez Engels, estudar e interpretar a realidade da classe trabalhadora em seu tempo – como apontou Engels na Análise da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Uma linha de frente unificada não apenas fortalece a resistência ao neofascismo, mas também amplia as possibilidades de construir um projeto político mais inclusivo e transformador, reconhecendo a complexidade das lutas sociais contemporâneas. Este é construído pelo embate, confrontação de teses e ações práticas, em um processo de experimentação coletiva, que deve levar em conta a realidade concreta, da forma como ela é vivida, e não como uma espécie de luta de classes que só existe no papel.
Humanismo avant la lettre
Para manter o saudável espírito da polêmica, quero abordar algo perigoso do ponto de vista do pensamento marxista: a ideia de que as pautas identitárias – que por algum tipo de alquimia seriam mais facilmente capturadas pelo capital como se sindicatos e outras organizações trabalhistas também não o fossem – se opõem a um humanismo marxista, como se houvesse um gênero humano que precede as realidades históricas particulares e concretas.
Aos que têm um apreço por textos filosóficos de Marx, como os Manuscritos econômico-filosóficos, podem achar que essa visão é dominante em suas reflexões. Sinceramente, esta é a parte que menos me empolga na obra do sábio alemão. Não porque não tenha sido fundamental no estabelecimento de suas bases filosóficas, mas por sua tendência de substituir o estruturalismo – que pode se depreender da interpretação de seus livros de crítica da economia política – por outro que torna ainda mais opaco o sentido de sua obra. Sem história não há concreção da realidade e das ideiais – este é o ponto de partida. Como nos ensinou José Carlos Mariátegui, o socialismo entre nós ou será criação heróica ou não será.
No contexto brasileiro, é possível discutir a formação da classe trabalhadora sem considerar a configuração histórica do trabalho livre que emergiu do trabalho escravizado? Houve um ponto zero na nossa história que sepultou séculos de escravidão racial, genocídio e devastação da natureza? Esse ponto zero seria o “início” do trabalho livre? Portanto, a classe é uma construção histórica. Ela é estrutura, mas também agência; é definida pela luta e pela forma como é concretamente construída na história.
Assim, não podemos considerar uma oposição entre visões parciais e gerais da realidade. É impossível entender a totalidade sem reconhecer suas partes e suas múltiplas determinações. A questão não reside no problema das identidades, mas em sua desconexão da totalidade, levando a uma tendência ao ensimesmamento. Muitas críticas aos “identitários” parecem não se preocupar com a importância dessas lutas em si nem com o fato de que elas estão limitadas a uma perspectiva liberal de emancipação (talvez a maior exceção, neste sentido, seja a crítica de Douglas Rodrigues de Barros no seu O que é identitarismo?).
A esta limitação contribuiu que uma das principais fontes de inspiração da teoria crítica brasileira – o marxismo – não se renovou ou faz isso de maneira conservadora, como observa o pensador Márcio Farias. Este exercício autocrítico, no campo marxista, poucos tem feito.
Ademais, a tradição do marxismo negro caribenho e do marxismo africano – representada por pensadores como Oliver Cox, C.L.R. James, Walter Rodney e Claudia Jones – é amplamente ignorada pela esquerda brasileira como aponta Daniel Montañez Pico Marxismo negro: pensamento descolonizador do Caribe anglófano. Em meio ao centenário de Amílcar Cabral, cuja obra foi escrita em português, foram poucas as iniciativas que celebram seu legado e contribuição à teoria política marxista.
Essa resistência à renovação e a recuperação de perspectivas economicistas superadas por Marx revelam um mal-estar que pode ser mais bem explicado por Guerreiro Ramos, ao falar da “patologia social do branco brasileiro”, ou por Florestan Fernandes, que destacava as reações irracionais dos brancos diante das reivindicações negras.
Esse humanismo a-histórico – que desconsidera os processos de humanização nas lutas de negros, mulheres, povos indígenas e Lgbtqia+ – pode ser ironicamente chamado de humanismo avant la lettre. Ele projeta uma ideia de humanidade – qual seria esta? – e busca realizá-la fora do contexto histórico, como entidade suprassensível, e pode ser funcional, neste sentido, ao eurocentrismo como ideologia na trilha de Samir Amin como no Eurocentrismo: a crítica de uma ideologia. Ponto para os “identitários”.
Sobre o autor
é professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), coordenador do Ija Imo – Grupo de Estudos do Marxismo Negro “Clóvis Moura” e da Rede Nacional do Marxismo Negro (@marxismo_negro).
Fonte: Jacobin Brasil.