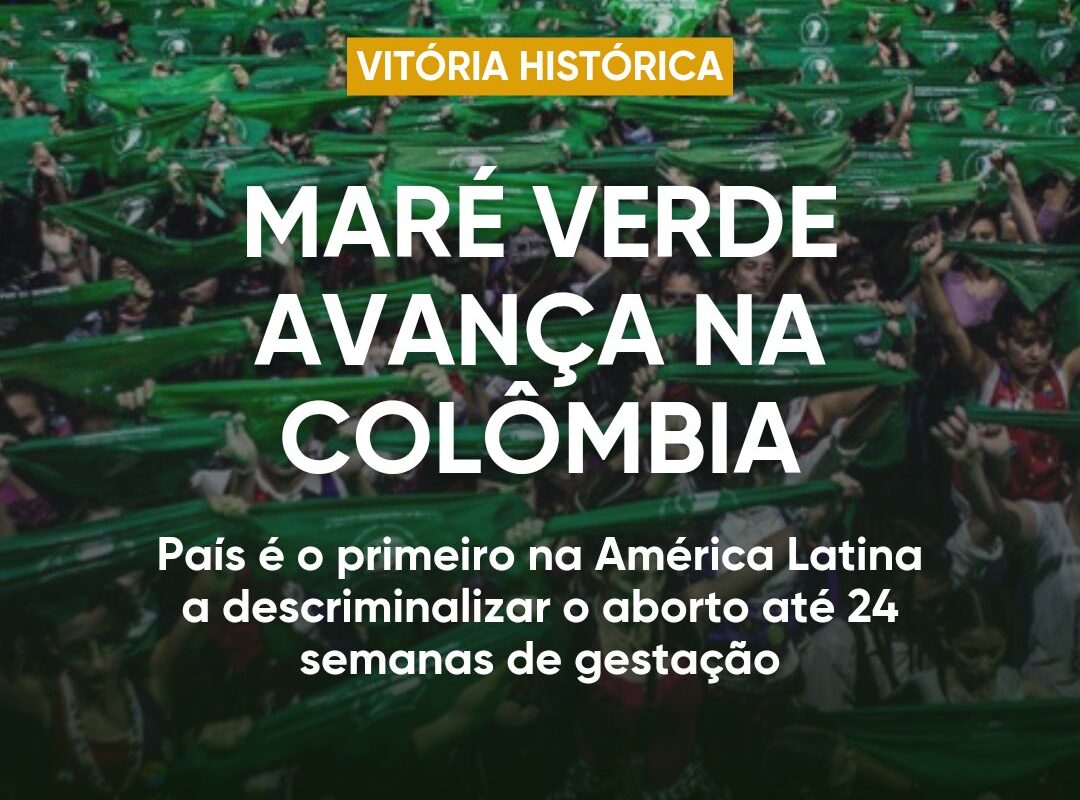Por Marília Marasciulo
Em mais um ano de casos que escandalizaram o país, os direitos reprodutivos pouco avançaram. Sob o debate moral e religioso, brasileiras seguem morrendo. Até quando?
“O aparelho genital feminino não pertence à mulher, mas à espécie. A mulher responderá por este depósito, que ela não pode desperdiçar.” Essa frase é do médico carioca Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães, nascido em 1878 e considerado um dos pioneiros da obstetrícia no Brasil.
Embora seja retirada de um livro publicado em 1933, Obstetrícia Forense, resume um pensamento presente até hoje quando o assunto é aborto: o de que as únicas funções da mulher são procriação e maternidade. Da religião à medicina, passando pela justiça e a política, tal noção ainda permeia o debate sobre a possibilidade de interromper uma gravidez indesejada.
Isso ficou escancarado em falas como as da juíza Joana Ribeiro Zimmer, que em junho de 2022, negou a uma criança de 11 anos, vítima de estupro e grávida de 22 semanas, o direito de realizar um aborto. “Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na tua barriga para gente acabar de formar ele, dar os medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar se você quiser?”, a magistrada perguntou à menina, em audiência realizada em Santa Catarina no dia 9 de maio de 2022. “Queres escolher algum nome para o bebê?”, continuou, ao que a garota respondeu negativamente com a cabeça.
Outro episódio que causou comoção internacional foi quando a Suprema Corte dos Estados Unidos, também em junho, revogou a decisão conhecida como Roe vs. Wade, que por meio século garantiu o direito constitucional ao aborto no país.
A ação foi movida em 1969 por Norma McCorvey, sob o pseudônimo de Jane Roe, então com 25 anos e grávida do seu terceiro filho. Ela tentou abortar, inclusive de maneiras ilegais, mas não conseguiu. O caso foi parar na Justiça e tinha como promotor público Henry Wade, que defendia uma lei antiaborto. Em 1973, o caso chegou à Suprema Corte, quando foi analisado junto com o de uma mulher da Geórgia, e os juízes decidiram que o direito de interromper uma gravidez era protegido pela constituição estadunidense.
Responsável por redigir a opinião da maioria conservadora na derrubada do Roe vs. Wade, o juiz Samuel Alito afirmou que esse direito nunca existiu na Constituição dos Estados Unidos e que o aborto se resume “a uma questão moral profunda, sobre a qual os americanos têm pontos de vista fortemente conflitantes”. Por isso, a regulação ou proibição da medida cabe aos cidadãos e seus representantes eleitos, na visão do juiz.
As consequências da decisão vieram rápido. Apenas três meses depois do julgamento, ao menos 15 estados proibiram completamente os serviços de aborto legal no país norte-americano. Como resultado, muitas mulheres precisarão viajar para realizar o procedimento em outros estados ou recorrer a abortos clandestinos — e as principais prejudicadas pelas restrições serão as mais pobres.
O ginecologista e obstetra Jefferson Drezett, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), lamenta que o tema continue a ser tratado como uma pauta descolada da saúde pública e dos direitos humanos. Por quase 30 anos, Drezett coordenou o Núcleo de Violência Sexual e Aborto Legal do Hospital Pérola Byington, na capital paulista, o mais importante serviço de aborto legal do país.
“Todos os indicadores são desfavoráveis às mulheres, que são colocadas em segundo plano”, pontua. A questão é que, enquanto a atenção não estiver voltada para elas, a discussão não vai avançar, e seguiremos testemunhando mortes preveníveis e situações como a da criança de Santa Catarina e tantas outras pelo país afora.
Proibição recente
Desde a antiguidade, há registros de métodos para o aborto voluntário. Em um texto escrito entre 2737 e 2696 a.C., o imperador chinês Shen Nung cita a receita de um abortífero oral, provavelmente contendo mercúrio.
De métodos não cirúrgicos, como trabalho extenuante ou ingestão de substâncias tóxicas, a tentativas de extração do feto, mulheres no mundo inteiro sempre buscaram formas de interromper uma gravidez indesejada. E, na maior parte dos casos, não eram julgadas, muito menos condenadas, pela prática.
O argumento do controle populacional também era usado em Roma, que tolerava o aborto em tempos de alta natalidade, mas o considerava um “delito contra a segurança do Estado” quando os nascimentos declinavam. Entre os gauleses, o aborto era considerado um direito natural do pai, chefe incontestável da família, que poderia decidir sobre a vida ou a morte dos filhos, antes ou depois de nascerem.
Foi só a partir do século 19 que restrições antiaborto mais severas começaram a surgir por diferentes motivos. O principal, e que perdura até hoje em países com a maioria da população cristã, foi a aliança entre política e Igreja Católica. Até então, o tema nunca havia sido uma unanimidade entre os cristãos, dividindo-os entre aqueles que argumentavam que a prática seria um “homicídio antecipado”, pois a vida de um ser humano se iniciaria na fecundação, e os que defendiam que um feto precisaria estar melhor formado para receber uma alma.
Mas, em 1869, a pedido do imperador francês Napoleão III, que estava preocupado com o declínio da população no país, o papa Pio IX se posicionou contra todos os abortos. A prática passou a ser penalizada com excomunhão automática.
A ciência também contribuiu para formar a opinião antiaborto. Na edição de 1998 do livro Our Bodies, Ourselves — uma espécie de manual feminista sobre saúde e sexualidade das mulheres, elaborado pelo Boston Women’s Health Book Collective —, as autoras explicam que uma das justificativas da proibição inicial ao aborto era proteger as mulheres de técnicas cirúrgicas arriscadas, embora outros métodos também perigosos continuassem sendo permitidos. Ao mesmo tempo, homens estavam controlando cada vez mais a medicina, e considerando que parteiras e aborteiras poderiam ameaçar o poder econômico e social dos médicos.
Outro ponto que aprofundou a condenação ao aborto foi a consolidação das especialidades de obstetrícia e pediatria, no final do século 19 e início do século 20. Segundo a historiadora Georgiane Garabely Heil Vázquez, a partir dessa época passou a haver, cada vez mais, “a extrema valorização da criança e da infância”. “Antes disso, nascia e morria muita criança. Mas aí perder até um feto passa a ser uma tragédia”, resume Vázquez, que é líder do Laboratório de Estudos de Gênero, Diversidade, Infância e Subjetividades (LAGEDIS) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no Paraná, e membro do grupo História da Assistência à Saúde da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). “À mulher cabe dar a vida, fazer viver e deixar viver. O centro não está mais nela, está na criança. Por isso, algumas pessoas começam a colocar essa vida do embrião e do feto acima da da própria mãe.”
No Brasil, o código penal de 1940 estabeleceu que aborto é crime. Em determinadas hipóteses, porém, há o chamado “afastamento da culpabilidade”, que torna o procedimento legal. São elas: quando há risco de vida à gestante (e por isso entende-se morte iminente, não risco de sequelas ou prejuízos para a saúde); quando a gravidez decorre de violência sexual (aqui a preocupação era apenas com a honra do marido ou do pai da vítima); e em casos de anencefalia, conforme julgado em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54 (ADPF 54).
Moralismo que mata
A partir das proibições respaldadas por uma mistura de fé, política e interpretações imprecisas da ciência, a discussão sobre aborto ganhou contornos morais. “Todo mundo tem uma opinião sobre aborto, mas ela é formada de maneira equivocada, a partir da pauta moral, que é como fomos socializados para pensar sobre o assunto”, pontua o médico e professor da USP.
Para o especialista, perguntar a uma pessoa se ela é contra ou a favor do aborto seria como perguntar se alguém é a favor ou contra o câncer de mama. “Não é uma questão de ser contra ou favor. É uma questão sobre mulheres morrerem ou não por serem obrigadas pelo Estado a buscar um aborto de risco”, frisa.
Sob a perspectiva moral, os argumentos se tornam cada vez mais descolados da realidade — ao ponto de menosprezar por completo a vida de quem gesta, como é o caso do debate sobre o início da vida. Um argumento frequentemente usado por quem defende a proibição do aborto, principalmente a Igreja Católica, é o de que a prática seria equivalente a um homicídio.
Tal noção vem sendo repetidamente amparada pela autoridade máxima do catolicismo, o Papa Francisco, que ocupa o cargo há quase dez anos. Em 2021, em uma coletiva de imprensa, ele afirmou que “quem faz um aborto mata”. “O feto já tem todos os órgãos; todos, mesmo o DNA”, continuou. Bem, todas as células humanas contêm DNA — que é um código genético, não um órgão. Além disso, não existe, nem na ciência, nem no direito, um consenso sobre quando começa a vida.
“É uma questão muito complexa, a vida está aí. Não há como dizer ‘ela começa aqui’. Há vida em um óvulo e em um espermatozoide, são células vivas, temos todo um organismo vivo dentro de nós”, observa socióloga Maria José Rosado, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e presidente da organização Católicas pelo Direito de Decidir. “Essa definição depende do consenso social, da sociedade defi nir a partir de quando não se pode mais interromper uma gestação, e não de quando começa ou não a vida. Quando se defende a vida de maneira abstrata, sem levar em consideração tudo que há em torno de se fazer outro ser humano, é uma defesa vazia.”
Do ponto de vista jurídico, a vida não é um direito absoluto. “Não há nenhum direito no sistema constitucional que seja encarado como absoluto. Por isso precisamos entender que a dignidade e a saúde da mulher, além da autonomia para fazer escolhas, também são relevantes”, explica Melina Girardi Fachin.
Aliás, de acordo com a docente da UFPR, para o Código Civil brasileiro, o início da personalidade jurídica de um indivíduo se consolida somente após o nascimento com vida. Mas isso não necessariamente se reflete na realidade. “Hoje se dá a uma célula fecundada o mesmo valor de uma pessoa nascida. É de uma ignorância doentia, estarrecedora”, opina Jefferson Drezett.
Medicina baseada em religião
Durante o julgamento da ADPF 54, em 2012, o ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto defendeu que “o feto anencefálico é algo, mas não alguém.” Na espécie humana, o cérebro começa a se formar após a décima segunda semana de gestação. Nem sempre, porém, fatos e evidências científicas como essa são levadas em conta.
“Nas hipóteses de aborto legalmente previsto, a mulher não precisa de autorização judicial, mas esse cenário moralista acaba criando obstáculos para esse direito desde o tratamento médico até as decisões judiciais”, explica Fachin. “Existe uma confusão profunda e inadequada dos juízos individuais e o que a Constituição disciplina.”
Entre médicos, a religião é um fator prevalente em posições e práticas que se opõem ou buscam restringir o acesso ao aborto. Foi o que Drezett e os pesquisadores Renato de Oliveira, da Faculdade de Medicina do ABC, e Maria Ines Rosselli Puccia, da Faculdade de Saúde Pública da USP, identificaram em uma revisão sistemática conduzida nas bases científicas SciELO e LILACS entre 2010 e 2021.
“A análise dos estudos indica que visões religiosas exercem, direta ou indiretamente, em diferentes medidas, uma influência significante nas práticas de estudantes e profissionais que trabalham com atendimento de saúde sexual e reprodutiva”, constatam os autores no artigo, publicado em 2022 no periódico Human Reproduction Archives. “Essas posições religiosas contribuem para manter obstáculos para o aborto, mesmo em casos legais, e para violar os direitos humanos e reprodutivos das mulheres.”
Em 2013, o Conselho Federal de Medicina (CFM) entregou ao Senado um ofício propondo a descriminalização do aborto até a décima segunda semana de gestação. O documento destacava aspectos éticos, epidemiológicos, sociais e jurídicos — entre eles, o fato de que no Brasil a prática é uma causa importante de mortalidade materna, evitável em 92% dos casos. Os médicos reforçaram, contudo, que não propunham a descriminalização total do aborto, apenas que se estabelecesse novos cenários em que ele se tornaria permitido.
Em 2018, o mesmo conselho divulgou nota alegando não ter se manifestado a favor do aborto. “No entendimento do CFM, a decisão a ser tomada pelo Poder Legislativo e, posteriormente, sancionada pela Presidência da República, deve considerar aspectos éticos e bioéticos; científicos; epidemiológicos; sociais; e jurídicos, tendo como parâmetros os compromissos do Estado com a proteção aos direitos humanos e à vida”, diz o texto.
Coincidência ou não, o novo posicionamento da autarquia que representa a classe médica brasileira se deu poucos meses antes da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, cujos quatro anos de governo foram marcados por retrocesso na temática. Mas não que antes de 2019 o debate sobre o aborto no Brasil tivesse avançado muito.
Ferramenta política
Uma pesquisa realizada entre junho e agosto de 2018 pela ONG de direitos humanos Artigo 19, responsável pela iniciativa Mapa Aborto Legal, constatou que a quantidade e a qualidade de informações públicas disponíveis sobre direitos sexuais e reprodutivos estão aquém do necessário.
Essa é uma das explicações para 95% das mulheres desconhecerem os serviços de violência sexual em suas cidades, e 48% dos brasileiros ignorarem as situações em que o aborto pode ser feito legalmente, de acordo com pesquisa feita pelo Ibope em 2006, sob encomenda da organização Católicas pelo Direito de Decidir.
Um mês depois, o Brasil assinou a Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Mulher, grupo criado pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump para unir governos conservadores em posicionamentos sobre a temática de direitos reprodutivos, educação sexual, legalização do aborto e defesa da família — baseada em casais heterossexuais e cisgênero. Por fim, em junho de 2022, o Ministério da Saúde publicou uma cartilha afirmando que não existe aborto legal no Brasil e que casos permitidos no país deveriam ser submetidos a investigação policial.
Sob o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023, tanto a portaria do Ministério da Saúde quanto a participação do Brasil na Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Mulher foram revogadas. E há esperança de que, aos poucos, a discussão avance.
Desde 2017, a ADPF 442, que tem o objetivo de responder se o artigo do código penal que trata de aborto é compatível com a Constituição, aguarda julgamento no STF. Caso os ministros decidam que há incompatibilidade constitucional, a arguição tem potencial para se tornar a versão brasileira de Roe vs. Wade, abrindo caminho para a descriminalização do aborto voluntário até a décima segunda semana, ou terceiro mês de gravidez.
Direitos de quem já nasceu
Enquanto todos têm uma opinião sobre o aborto, quem sente as consequências da falta de acesso ao procedimento seguro é uma parte da sociedade. “As mulheres estão solitárias e abandonadas nessa questão na maior parte das vezes; são elas que sofrem todos os desdobramentos sem que o parceiro sofra nada. Eles não são nem constrangidos, é muito confortável”, ressalta Drezett.
Até o início do segundo semestre de 2022, o Brasil ainda registrava 60 óbitos de mães para cada 100 mil nascidos vivos, um número muito distante da meta estabelecida para 2030, de 30 óbitos por 100 mil, e ainda mais longe do registrado em países da Europa Ocidental, com menos de 10. Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), abortos inseguros são a quarta maior causa de mortalidade evitável no país.
É difícil saber exatamente o número de abortos clandestinos realizados por aqui, mas as estimativas são alarmantes: entre 2016 e 2020, para cada aborto legal, o SUS realizou 100 atendimentos para socorrer mulheres que sofreram aborto espontâneo ou que recorreram a métodos clandestinos.
No total, foram realizados 8.665 abortos legais e 877.863 procedimentos pós-abortos malsucedidos. Os dados são do Ministério da Saúde, com base no Sistema de Informações Hospitalares do SUS e na plataforma Tabwin, do DataSUS.
Outro levantamento, esse realizado pelo jornal Folha de S. Paulo também usando os registros do SUS, revela que, em 2021, 1.556 meninas de 14 anos ou menos foram internadas por abortos espontâneos ou induzidos fora dos hospitais, ao passo que 131 ocorreram devido ao procedimento por causas autorizadas. Ou seja, para cada aborto legal realizado em meninas de 14 anos ou menos, 11 garotas foram hospitalizadas.
Embora os dados oficiais de saúde não permitam uma estimativa precisa do número de abortos no país, é possível traçar um perfil de mulheres em maior risco de óbito em razão de procedimentos malsucedidos: as pretas e as indígenas, de baixa escolaridade, com menos de 14 e mais de 40 anos, vivendo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e sem companheiro.
A conclusão é do artigo Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais?, publicado nos Cadernos de Saúde Pública em 2020. “As mulheres que estão em outro patamar socioeconômico estão protegidas. Elas vão para [o aeroporto de] Guarulhos, pegam um avião e realizam um aborto seguro em Portugal sabendo que não vão sofrer sanção legal ou outras consequências”, pontua Drezett. “O que é doloroso é saber que a mulher que limpou o chão do aeroporto para essa [outra] mulher passar não terá o mesmo destino.”