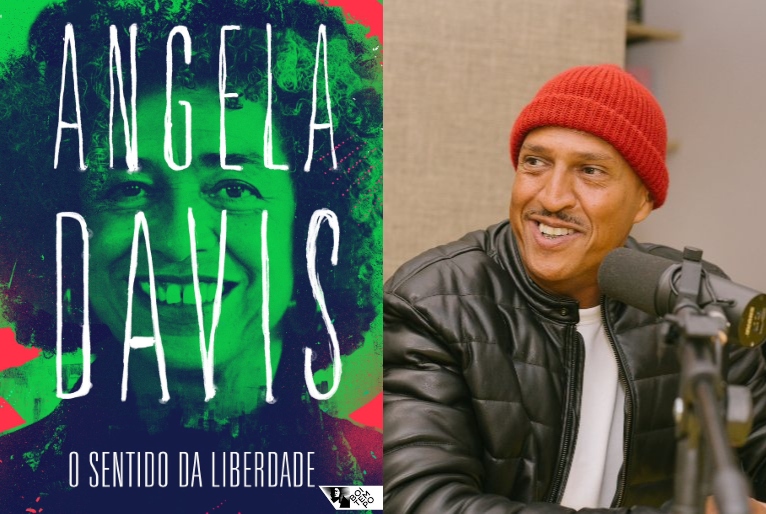Patricia Hill Collins, uma das mais importantes pensadoras negras contemporâneas concede esta entrevista à Folha de São Paulo, sobre o livro “Interseccionalidade”, escrito por ela e Sirma Bilge, que chega ao Brasil, em português.
“Se eu olhasse só o debate nas redes sociais, sairia correndo, afirma Patricia Hill Collins”
Sair da lógica da destruição do oponente, aprender a ouvir e buscar pontos de encontro possíveis —a reabilitação crítica e atenta do “conversando a gente se entende” (um processo sem dúvida mais lento e menos apetitoso para as redes sociais) — são algumas das ações propostas por Patricia Hill Collins e Sirma Bilge no livro recém lançado “Interseccionalidade”.
A partir de suas experiências de vida, ensino e pesquisa —convergentes, mas diferentes— Hill Collins, professora emérita do departamento de sociologia da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e Bilge, professora catedrática no departamento de sociologia da Universidade de Montreal, apresentam os frutos intelectuais do exercício-desafio que se impuseram.
“A execução deste livro implicava trabalhar em meio às diferenças. Logo descobrimos que dialogar é um trabalho árduo”, escreve Hill Collins já no prefácio.
As autoras defendem o diálogo como ferramenta imprescindível para a luta por justiça social e fazem dessa escrita conjunta, portanto, um metalivro. Não só trata da necessidade de contemplar a confluência de realidades para a compreensão do mundo contemporâneo, mas também põe em prática o que apresenta na teoria, em um “convite para adentrar as complexidades da interseccionalidade”, como afirmam.
Das redes sociais à gestão Biden, do pensamento feminista negro brasileiro ao surgimento de novas denominações usadas pelas chamadas minorias nos Estados Unidos, Hill Collins —primeira negra a presidir a Associação Americana de Sociologia e uma das mais influentes pesquisadoras do feminismo negro em seu país— deu a seguinte entrevista.

‘Interseccionalidade’ hoje é dos conceitos mais usados para tentar explicar as várias dimensões da experiência humana. Foi banalizado ou sua popularidade é o que lhe dá maior riqueza?
Vejo os dois. O crescente uso da interseccionalidade por pessoas envolvidas em projetos de justiça social é positivo. O termo começou a ser usado nos anos 1990, mas suas ideias têm uma história mais longa. É algo poderoso que une múltiplos projetos de justiça social, especialmente –mas não exclusivamente– os de justiça racial, de gênero, econômica, sexual e ambiental.
Cada um desses projetos usa a interseccionalidade para abastecer suas análises e ações. Nosso atual momento de descolonização global e dessegregação ofereceu oportunidades sem precedentes para que esses projetos considerem como estão inter-relacionados. O poder da ideia de interseccionalidade reside no seu potencial de gerar novas questões, conhecimentos e práticas que impulsionam muitas pessoas para a justiça social.
Ironicamente, a crescente visibilidade e a aparente popularidade desse termo fazem com que surjam novas preocupações. Muitos o usam como substituto para outras palavras como diversidade, equidade e justiça social. A tendência a mencionar interseccionalidade na imprensa de massa ou nas redes sociais sem que se saiba muito sobre o tema em si tanto pode banalizar a riqueza das ideias como reduzir o potencial político desse termo.
Às vezes, com uma compreensão escassa, seja da história da interseccionalidade ou de suas ideias e práticas centrais, essa estratégia permite às pessoas usar a palavra como atalho para propagar argumentos pré-concebidos, e a política pode se encher de usos desse tipo. Entre a direita, a interseccionalidade termina varrida no meio de debates acalorados que condenam movimentos sociais. Entre a esquerda, essa concepção-atalho apresenta uma frente unida idealizada, mais imaginária do que real. A interseccionalidade é bem mais complexa do que esses usos que fazem dela.
No livro, a sra. e Sirma Bilge reforçam a ideia de que, mais do que apontar verdades ou certezas, é um convite a ouvir e dialogar. Se pensarmos no debate atual –especialmente o das redes sociais–, recomendar a escuta é quase revolucionário, contracultural.
Se eu só olhasse para o que acontece no debate público nas redes sociais, nos meios de comunicação de massa e na cultura popular nos Estados Unidos, sairia correndo.
O espírito de competição que estimula debates de confrontação cria um clima de vencedores e perdedores em que, em sua pior vertente, os vencedores triunfam ao destruir seus rivais. Debates baseados no confronto divertem, e essa é uma das razões para que sejam tão populares, em transmissões esportivas, programas de culinária, torneios de cachorros.
Quando combinadas com o anonimato das redes, as regras de participação nesses debates agravaram a tendência de vencer custe o que custar. Para algumas pessoas, o anonimato é um convite para dizer tudo o que desejam sem que tenham que prestar contas dos efeitos das suas palavras. Debates em que o outro é visto como oponente, baseados no confronto, e conversas não são a mesma coisa.
Muitas pessoas estão tendo conversas importantes nas redes sociais que não podem ter frente a frente, usando esse mesmo anonimato para proteger ideias e identidades sensíveis e ações políticas. Conversas substantivas, o tipo de diálogo que defendemos em “Interseccionalidade”, podem acontecer nos meios de comunicação, mas só se houver responsabilidade pelas ideias e ações das pessoas, e o compromisso de trabalhar sobre as diferenças a partir da escuta e do aprendizado mútuos.
A interseccionalidade é uma metáfora para um lugar de encontro em que projetos diversos podem se ouvir e, por meio do engajamento intelectual e político, fortalecer iniciativas de justiça social. Projetos interseccionais requerem um processo de engajamento dialógico que vai além dos debates de confrontação. O desejo de resolver um problema social muitas vezes une as pessoas, e o engajamento dialógico pode aprofundar a interseccionalidade.
A cobertura da imprensa sobre os ataques a oito pessoas, em março, por parte de um homem em Atlanta, por exemplo, ilustra o engajamento dialógico em ação. No começo, o episódio foi coberto como um crime de ódio racial praticado por um homem branco, um atirador solitário. Nos dias seguintes, a cobertura passou a pôr o foco no aumento dos crimes de ódio contra asiáticos durante a Covid, e depois nas mulheres asiáticas.
Os ataques aconteceram em spas e impulsionaram análises sobre as oportunidades de trabalho limitadas dadas às imigrantes asiáticas nos Estados Unidos e como imagens de controle sexualizadas aplicadas a elas moldaram o trabalho que faziam. Aplicar lentes de raça, gênero, classe e sexualidade a esse ato de violência produziu um retrato mais completo. Mas, assim como ninguém tinha todas as respostas aqui, ninguém tem todas as respostas dentro da própria interseccionalidade.
Nos Estados Unidos, a expressão ‘pessoas de cor’ vem ganhando um uso mais amplo do que o que tinha nos anos 1980 –está sendo usada não só por negros mas também por pessoas pertencentes às chamadas minorias em geral (latinos, indígenas, asiáticos). Qual a sua opinião sobre isso?
Termos criados de baixo para cima, e que muitas pessoas usam para descrever a si mesmas e suas visões de mundo, podem ser úteis na luta política. Muitos desses grupos que optam por se identificar com o termo “pessoas de cor” fazem isso para deixar claro desde o início quais são suas histórias no grupo e a necessidade de um termo assim.
Negros, latinos, indígenas e asiáticos nos Estados Unidos são frequentemente retratados como minorias que competem entre si. Há uma tendência a ignorar as alianças entre os grupos, e o que dizer das realidades dos indivíduos que pertencem a ambos os grupos. A construção dessa solidariedade através do engajamento dialógico leva tempo. No contexto dos Estados Unidos, do “divide e reinarás”, ter um termo como “pessoas de cor” para descrever um novo grupo, por parte de pessoas que estão nele, pode ser útil. Talvez seja o caso também do surgimento, no ano passado, do termo “bipoc” [sigla para negro, indígena e pessoas de cor, em inglês].
Por outro lado, impor o termo “pessoas de cor” de cima para baixo pode implicar significados totalmente diferentes. Para muitos campi nos Estados Unidos, com um número crescente de afro-americanos, latinos, indígenas, asiático-americanos, muçulmanos e grupos minoritários raciais e étnicos similares entre seus alunos, funcionários e corpo docente, o termo “pessoas de cor” oferece uma maneira útil de categorizar essa população heterogênea.
Esforços similares, para consolidar estudos negros, latinos, asiáticos, indígenas e similares sob o título de estudos étnicos, esse empacotamento tem origem na eficiência institucional mais do que nos próprios grupos. Há afinidades entre eles, mas isso não pode ser atribuído por decreto, senão que deve ser cultivado através do esforço conjunto de aprender com as histórias uns dos outros.
Seu conceito de ‘imagens de controle’ é rico para pensar sobre a hiperssexualização da mulher negra também no contexto brasileiro. Há muitos paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos em relação às imagens de controle hiperssexuais das mulheres negras, de como essas imagens sustentam o racismo e os projetos nacionais de cada país. Em “Pensamento Feminista Negro”, examinei como as imagens de controle constituem um elemento central de relações de poder que se cruzam nos Estados Unidos e que têm efeitos a longo prazo nas vidas das mulheres afro.
Mas quero enfatizar as limitações de qualquer análise sobre isso feitas fundamentalmente nos Estados Unidos e aplicadas de forma acrítica ao Brasil. Busquei engajamento dialógico com os trabalhos de Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Nubia Regina Moreira, Lúcia Xavier, Djamila Ribeiro e intelectuais negras ativistas semelhantes numerosas demais para citar. O rico trabalho dessas mulheres estabelece alicerces para conversas includentes entre as fronteiras brasileiras e norte-americanas sobre o significado das conexões entre as imagens de controle da sexualidade das mulheres negras, e raça e racismo.
Essa é uma conversa importante e permanente. As mulheres negras nos dois países compartilham histórias de violência de gênero que fabricaram suas imagens de controle hiperssexualizadas. Há uma ligação entre sexualidade e violência que persiste no presente, continua a moldar comportamentos que afetam as mulheres negras, tais como estupro e ataques sexuais, gestações não desejadas, relegação ao trabalho sexual. Assim como as histórias de escravidão, emancipação e movimentos rumo à participação democrática são diferentes nos dois países, também há contornos e usos distintos das imagens sexualizadas das mulheres negras.
Em segundo lugar, ao passo que Brasil e Estados Unidos têm experiências diferentes em relação às ideologias de que “não existe preconceito racial” e de um racismo explícito baseado na cor, essas duas formas de discriminação usaram imagens de controle semelhantes. O racismo de “não ver a cor, apenas as pessoas” é parte da história nacional brasileira da democracia racial. Nos Estados Unidos, pelo contrário, as políticas que levaram a cor em consideração tornaram a negritude hipervisível e isso serviu de desculpa para as mesmas imagens hiperssexualizadas das mulheres negras que persistiram até meados do século 20.
Como a sra. vê a evolução do feminismo e seus desafios na última década?
Em “Black Sexual Politics”, examino por que é importante ir além de uma agenda política centrada no homem negro e avançar em uma agenda de justiça social para as mulheres negras. Projetos antirracistas que não contemplem mulheres negras estão fadados ao fracasso. Da mesma forma, um feminismo que atenda um pequeno segmento da população também está fadado ao fracasso. O feminismo contemporâneo é multicultural, multiétnico e multinacional.
A palavra “feminismo” é menos o problema do que concepções equivocadas desse termo, usadas para impedir o acesso das mulheres negras a projetos de justiça social. Feminismo é uma palavra de poder –ela não encontraria resistência de forma tão veemente se não fosse percebida assim. O que importa são as ideias que a palavra “feminismo” evoca para quem a reivindica. Qualquer pessoa que acredite em justiça social para mulheres, especialmente igualdade em relação a renda, saúde, família, educação, trabalho, imagens e participação política, deve e pode apoiar o feminismo.
Tenho muitos colegas homens, maravilhosos, amigos e familiares que defendem a igualdade para as mulheres. Por outro lado, muitas mulheres brancas não apoiam o feminismo e usam seu privilégio de classe, racial ou nacional para se opor à igualdade das mulheres. As mulheres negras presas à ideia de que o feminismo é para mulheres brancas devem se perguntar “quem se beneficia se eu acreditar nisso?”.
Cada vez mais, vejo jovens negras colocando alguma versão da agenda feminista negra no centro de suas análises. Para as próximas gerações, a intersecção entre negritude e feminismo não é uma contradição. Mais do que isso, o feminismo negro indica o caminho para novas possibilidades.
Quais são suas esperanças ou precauções em relação à administração Biden-Harris?
Estou cautelosamente otimista sobre o futuro próximo e esperançosa sobre as perspectivas de longo prazo para a democracia participativa nos Estados Unidos. Crescer em uma família de classe trabalhadora modelou minha crença de que pessoas comuns são as que impulsionam e geram mudanças sociais profundas.
Estudar as batalhas intergeracionais com que se confrontavam as mulheres negras me ajudou a suportar 2020, um ano sem precedentes. Poderíamos pensar que sobreviver a uma pandemia, navegar as incertezas de uma crise econômica permanente, trabalhar para derrotar candidatos de extrema direita em eleições históricas nos Estados Unidos e apoiar, se não participar, de protestos globais contra a violência aprovada pelo Estado derrubaria as mulheres negras. Mas não, porque elas enfrentaram adversidades antes e muito provavelmente vão continuar a fazer isso no futuro.
É difícil atravessar a tristeza de agora e ver alguma promessa. Mas fico animada de ver os jovens que estão imaginando novos futuros. Eles se expressam contra uso de armas, pobreza, desigualdade social e degradação ambiental, em ações baseadas em ideias de interseccionalidade. Há muito mais dessas pessoas do que o número cada vez menor de guardiões do passado que se aferram a um status quo injusto. Não nos enganemos –este momento é a continuação de uma luta de longa data entre a promessa do “sonho americano” e a desigualdade social consolidada que negou esse sonho a muita gente. Mas tudo o que podemos fazer é continuar a tentar.
Patricia Hill Collins, 72
Nascida na Filadélfia (EUA) em 1948, filha de uma secretária e de um veterano da 2ª Guerra Mundial, é professora emérita do departamento de sociologia da Universidade de Maryland. Foi a primeira negra a presidir a Associação Americana de Sociologia
Fonte: Folha de São Paulo, abril 25, 2021 | | Imagem: by Cursinho Psico CRISE 2019 Medium.