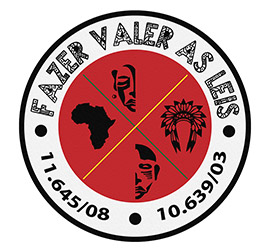Por Mariana Vic
Organizações do Brasil e de outros países da Amazônia lançam iniciativas para defender seus interesses e proteção do ambiente em que vivem. Na COP16, em Cali, na Colômbia, lançaram em 26/10/2024 duas iniciativas no contexto da Conferência da ONU sobre biodiversidade. A primeira foi o chamado G9 da Amazônia Indígena, coalizão para proteção da floresta nos nove países amazônicos. A segunda foi um manifesto que pede a participação indígena na presidência da COP30, que ocorre em Belém em 2025.
Ambas as iniciativas, cada uma a seu modo, mostram as formas pelas quais o movimento indígena tem buscado mais protagonismo nos espaços diplomáticos. Antes dos anúncios de agora, a COP do clima de 2023 já havia sido a cúpula com a maior presença indígena da história. Para o movimento, é imprescindível participar das decisões sobre temas como clima e biodiversidade
Neste texto, o Nexo explica o que são as iniciativas lançadas na COP16, quais são as razões para seu surgimento e qual o histórico da busca do movimento indígena por protagonismo na diplomacia. Mostra também quais são os desafios para sua inserção em espaços como as cúpulas da ONU.
O que são as iniciativas
O G9 da Amazônia Indígena foi criado para unir as demandas de povos dos países da Amazônia e pressionar os governos locais de forma conjunta. O grupo diz que seu principal interesse é a defesa da floresta, dos povos tradicionais, da biodiversidade e do clima global. A aliança reúne organizações de nove países:
Brasil
Bolívia
Colômbia
Equador
Guiana
Guiana Francesa
Peru
Suriname
Venezuela
A primeira reivindicação do grupo é o reconhecimento, pelos governos de todo o mundo, de que os povos tradicionais são as principais autoridades na conservação dos biomas e na proteção das espécies e do clima. Os indígenas afirmam que seus territórios impedem a destruição das florestas. Apesar disso, eles não recebem financiamento adequado para proteger a natureza e têm pouca participação em negociações internacionais.
“O G9 é pensado para ser um espaço técnico e político, para que possamos cada vez mais unificar o movimento indígena da bacia amazônica”, disse ao Nexo Toya Manchineri, coordenador da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), que representa o Brasil na coalizão. “[Estamos] pensando em fazer incidência tanto nas COPs de clima quanto nas de biodiversidade. Precisamos estar cada vez mais unidos, discutindo temas que são relevantes para nós, povos indígenas, e para a sociedade não indígena.”
A reivindicação da copresidência da COP30, por outro lado, é uma iniciativa do movimento indígena brasileiro. No manifesto “A resposta somos nós”, lançado no dia 26 de outubro, os autores não só pedem para participar do comando da cúpula que ocorre em Belém — o que seria inédito na história das conferências —, mas fazem exigências como a proibição da extração de petróleo e gás na Amazônia. “Nós não aceitaremos mais nenhum projeto predatório, que ameace nossas vidas, nossos territórios e a humanidade”, diz o texto.
“A copresidência da COP30 vem desse sentido de [a cúpula] estar em território amazônico e indígena. Somos desse território, e uma pessoa indígena nesse papel [de presidente] traz a importância que temos nesse assunto. Somos autoridades quando se fala de preservação e conservação do meio ambiente e os maiores combatentes das mudanças climáticas”. Toya Manchineri, coordenador da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), em entrevista ao Nexo.
De onde vêm essas iniciativas
As iniciativas lançadas na COP16 vêm de um histórico longo de busca do movimento indígena por protagonismo diplomático, com algumas conquistas. Lideranças indígenas conseguiram grande espaço, por exemplo, na COP26, em Glasgow, em 2021, apresentando-se em debates antes restritos a outros integrantes da sociedade civil. Governos e doadores privados anunciaram um volume inédito de doações para as comunidades naquele ano.
US$ 1,7 bilhão foram prometidos por governos e doadores privados em doações diretas para os povos indígenas, com o objetivo de ajudá-los a proteger os biomas em que vivem; repasse não foi necessariamente cumprido.
A participação indígena brasileira também foi recorde na ocasião, com mais de 40 lideranças em Glasgow, a maioria mulheres. Nomes como Sônia Guajajara e Joênia Wapichana participaram de agendas com autoridades dos EUA e do Reino Unido. Txai Suruí, ativista então com 24 anos, foi a única brasileira a discursar na abertura do evento, pedindo espaço aos indígenas nas decisões da cúpula.
“O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A Terra está falando: ela nos diz que não temos mais tempo”. Txai Suruí, fundadora do Movimento da Juventude Indígena em Rondônia, em discurso na abertura da COP26, em Glasgow, na Escócia.
A presença de indígenas do Brasil e do mundo cresceu nas cúpulas seguintes, com destaque para as COPs 27 e 28. “Além da presença física, tivemos um protagonismo. Foi a primeira vez que tivemos indígenas participando diretamente de um diálogo com os negociadores do Brasil”, disse Guajajara, hoje ministra dos Povos Indígenas, sobre a cúpula de 2023. Ela elogiou a criação de espaços para a formação de negociadores indígenas.
“Faz muitos anos que nós, povos indígenas, desejamos e precisamos estar nesses espaços”, disse Manchineri ao Nexo. As primeiras participações ocorreram em órgãos de direitos humanos, como o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Populações Indígenas, criado em 1982. Depois, esse movimento foi para outros ambientes, em especial as cúpulas ambientais.
“Desde a conferência ECO-92 [em 1992, no Rio de Janeiro], uma das primeiras, [a participação] foi pequena, mas a Coiab foi lá, com um de nossos fundadores. Assim foram crescendo nossas delegações. A própria Sônia Guajajara já foi [a esses eventos] pela Coiab e hoje é uma das maiores forças do país. A Joênia Wapichana, com o Caucus [grupo global que busca garantir participação dos povos indígenas nas negociações ambientais] ainda nos anos 2000. Hoje, quem é mais presente na pauta é a [cientista indígena] Sineia do Vale”. Toya Manchineri, coordenador da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), em entrevista ao Nexo.
Qual a importância de estar nesses espaços
Manchineri disse que é importante reivindicar protagonismo em espaços como as COPs porque eles ainda falam pouco sobre os povos indígenas, apesar do papel de seus territórios na proteção ambiental. “Em todas as cartas finais de COP, em nenhum momento a demarcação de terras indígenas é citada. Isso é bastante contraditório”, afirmou.
“Sempre observamos nossos territórios sendo debatidos por terceiros, mas nós somos capazes de estar em debate e articular pelos nossos territórios. Somos nós os mais atingidos pela violência de não ter um território demarcado. São os nossos territórios que secam, que pegam fogo. Somos nós que sentimos as mudanças climáticas”. Toya Manchineri, coordenador da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), em entrevista ao Nexo.
Parte das decisões das conferências dos últimos anos foram marcadas por frustrações de expectativas da sociedade civil. Foi apenas na COP23, por exemplo, que a decisão final da cúpula deu o primeiro sinal para o fim da exploração de combustíveis fósseis — embora também tenha feito concessões à indústria. Para Manchineri, falta coragem dos governos para tomar decisões efetivas, mas ainda há esperança
“É preciso acreditar que ainda há esperança, se não, nós não estaríamos aqui, lutando por espaço. A resposta somos nós. As nossas ações podem fazer a situação ser menos pior — ou pensando positivamente, [fazer a situação] melhorar. Deixando os povos indígenas e comunidades tradicionais ajudarem nesse processo, as coisas realmente podem mudar”, disse.
O principal obstáculo para a ocupação desses espaços é o racismo institucional, segundo ele. Na quarta-feira (30), por exemplo, Txai Suruí foi detida e machucada — um segurança apertou seu braço — na COP16, em Cali, após protestar com cartazes contra o marco temporal. A delegação brasileira a socorreu, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se pronunciou:
“Imagina uma jovem mulher fazendo uma manifestação com as mãos pintadas de sangue. Não tinha nenhuma razão para que três policiais fortes fizessem ali uma abordagem, digamos, bastante desproporcional. […] Obviamente que nós tomamos isso como um sinal para que tenhamos todos os cuidados, porque vamos ter uma COP em Belém que vai ter centenas de milhares de populações indígenas e de outros movimentos fazendo manifestações”. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, em declaração após o episódio.
A diplomacia e as diplomacias indígenas
Apesar de estar mais reconhecida nos últimos anos, a diplomacia indígena não é nova. “Os povos indígenas, historicamente, interagem por meio de métodos diplomáticos ancestrais, estabelecendo novas formas de vínculos interpessoais” que precedem a invasão das américas, segundo artigo de 2022 publicado na revista científica Monções. O texto divide a diplomacia indígena em três tipos:
diplomacia indígena internacionalizada, nos órgãos internacionais
diplomacia indígena enraizada, com base nos territórios
diplomacia indígena da complementaridade, praticada entre os povos para superar barreiras comuns.
Ellen Monielle, pesquisadora, mestre em gestão pública e cooperação internacional pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e uma das autoras do artigo, afirmou ao Nexo que os povos indígenas são o marco zero da diplomacia. “A modernidade se apropriou dos modelos diplomáticos que os povos indígenas já faziam”, mas adotando no lugar das práticas tradicionais uma narrativa eurocêntrica, segundo ela. “A diplomacia indigena é uma reapropriação de processos diplomáticos que foram recusados para os povos indígenas, mesmo eles sendo seus detentores.”
“Estar nesses espaços de tomada de decisão é muito importante como ação decolonial — ação de esses povos mostrarem que, mesmo com as opressões modernas coloniais, eles estão abertos para construções e estão ali como pessoas que podem fazer diplomacia, indo além do olhar do homem branco para os processos diplomáticos”
Monielle investigou a experiência de mulheres indígenas nas COPs 26 e 27 em sua dissertação de mestrado. Além do racismo institucional, são desafios para esses grupos a falta de financiamento para chegar às cúpulas, as dificuldades de logística e as barreiras (de idioma, por exemplo) para o acesso à informação dentro dos debates. “A COP não é inclusiva nem participativa”, segundo lideranças que ela entrevistou.
Para ela, os povos indígenas deveriam ser uma das partes (nome dado aos países-membros das COPs) desses eventos, com cadeiras nos espaços de decisão — ideia que já foi proposta por ativistas da Colômbia. “O protagonismo indígena traz muita esperança”, acrescentou. Essa esperança vai além das expectativas sobre as decisões das cúpulas:
“Os povos indígenas são os protagonistas, são os principais detentores de uma biodiversidade imensa, lutando dia após dia para manter nosso presente e futuro. A participação desses povos nas discussões é um sinal de que não temos que deixar a esperança morrer. Não vai ser na COP que as mudanças vão acontecer, mas vai ser nos territórios”.
Fonte: Nexo | Foto: Yves Herman, Reuters.