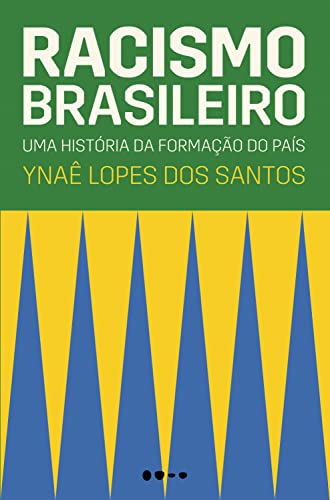Por Nathália Geraldo
Após longa discussão histórica, pardo ganha nova identidade: negro de pele clara.
Para começar essa conversa, é preciso atentar antes para um número: dos 212 milhões de brasileiros, 46,8% são pardos. Para deixar ainda mais explícito: quase metade da população do país é formada por pessoas que são brancas demais para serem pretas e pretas demais para serem brancas.
Apesar de conter uma parcela dos descendentes indígenas, os pardos passaram a ser reconhecidos como representantes da população negra brasileira após um longo empenho de movimentos sociais nos anos 70 e 80. O objetivo era consolidar uma identidade, a negra, e, a partir disso, somar forças no combate à desigualdade social.
As pessoas pardas somadas às pretas compõem a população negra (56%), maioria no Brasil. Mas o lugar do pardo é de fronteira. Historicamente, é também fruto da miscigenação. Para quem é pardo, ouvir a frase “Você nem é tão negro assim” faz parte do cotidiano. Mas como é estar em uma categoria racial “no meio”?
Para algumas pessoas, refletir sobre como se vê e como é visto pela sociedade resulta em um processo de se descobrir negro. É quando assumir quem se é, aceitar os traços da “parcela preta” que o constitui, transformam um passado de tentativas de embranquecimento em orgulho de ser negro. E é esse o movimento que vemos hoje – e que tende a crescer. Uma projeção da consultoria Tink Etnus diz que 70% dos brasileiros vão se autodeclarar negros nos próximos três anos.
Depois de uma discussão histórica sobre a mestiçagem, passando pelo estereótipo de “degenerado” e pela exaltação da mulata, culminando no mito da democracia racial, o pardo ganha a possibilidade de outra identidade: negro de pele clara, sem meio-termo. Essa negritude, como diz a colunista Bianca Santana, não será negociada.
Como não há uma tabela de cor para dizer quem é negro, e o determinismo biológico ou genético tem, no fundo, cunho racista, o pardo também é fruto de uma construção social, e se transforma com o passar do tempo.
Com experiências individuais, coletivas e sob o olhar sociológico e histórico, oito entrevistados por Universa constroem a seguir análises da questão racial no Brasil e contam o que a miscigenação e as tentativas de branqueamento fizeram de nós. Com isso, Universa quer estimular uma discussão transformadora, em que todos nós possamos nos ouvir. Compartilhe e argumente em nossas redes sociais ou nos conte o que você pensa por meio do universa@uol.com.br.
Quando nos descobrimos negros

Bianca Santana
Até os 20 anos, a escritora e doutora em ciência da informação Bianca Santana não era negra. Sabia que não era branca, mas não conseguia formular uma identidade racial. Na universidade, ela ouviu o coordenador do cursinho da Educafro, para o qual se voluntariava, celebrar o fato de que uma “jovem negra” seria professora ali. Levou um susto. Ela narra a história no livro “Quando me descobri negra” e conta para Universa: “Foi a primeira vez que eu ouvi que era negra, e ainda em um sentido positivo. Foi como se o coordenador do curso tivesse organizado naquelas poucas palavras uma identidade racial que eu não tinha. Até ali, eu tinha vivido uma experiência do não-lugar. Cresci na Cohab Fernão Dias e fui estudar em escola particular. Passei a ser vista como a menina rica. Na escola, eu era a menina pobre. Então, antes de entender que era negra, compreendi a desigualdade de classe. Hoje, lembro de algumas insinuações sobre minha identidade racial. As pessoas devem ficar atentas ao modo como elas são reconhecidas na sociedade. Porque a coisa do “Eu me sinto negro, não importa como as pessoas me veem” não faz sentido. Hoje vejo que tive, na família, elementos do que a gente chama de “casa de preto”: minha avó era uma mulher preta retinta, minha tia era da umbanda, não tinha meu pai em casa. Minha vida era muito parecida com a das pessoas negras.”

Natalia Bovolenta
Deixar de alisar o cabelo virou a chave para empreendedora Natalia Bovolenta, sócia da Wilifa. Ela se dizia parda. Hoje, negra de pele clara. Filha adotada em família branca, ela buscou aspectos de sua negritude e criou uma roda de conversa virtual compartilhar informações e ouvir relatos. “A minha identificação como negra de pele clara começou há três anos, aos 30. Deixei de alisar o cabelo e meu ex-namorado falou: ‘Você está se enraizando’. Esse verbo significou muito. A partir daí, vi o vídeo da [youtuber] Nataly Neri sobre colorismo. Ela falava que não seria “negrômetro” de ninguém, que não adianta seguidor perguntar se é negro ou não. E eu fiquei indignada, era exatamente o que eu queria. Hoje, entendo. Alisando o meu cabelo, eu não me via, nunca tinha parado para pensar sobre identidade racial. Era bem alienada, apesar de me xingarem de macaca na escola ou dizerem que eu tinha beleza exótica. Eu via vídeos de mulheres negras na internet que falavam: ‘Você não pode falar que você é negra, tem que falar que você é parda’, diminuindo nossas dores. Então eu dizia que era parda. Me identificar como mulher negra de pele clara foi um processo de aceitação. Me assumir parda não me satisfazia. Quando me coloco como negra de pele clara, sei que sofro menos racismo do que quem tem pele retinta. Mas a proposta é lutarmos juntos. A dor do não-lugar existe. Mas, nós estamos nos descobrindo.

Chavoso da USP
Foi ao deixar cabelo crescer que Thiago Torres, o @chavosodausp, se descobriu negro. “Eu sou filho de homem negro de pele clara, que se considera pardo, e mãe branca. Nasci e cresci na Brasilândia, um dos bairros mais negros de SP. Meus pais me consideravam branco. Mas às vezes aconteciam episódios que só depois entendi como racismo, sobre tamanho e formato do meu nariz, textura do cabelo. Me chamavam de branco encardido, sujo. Meu cabelo não crescia para baixo. Então, alisava, passava chapinha, muito creme. Com 16 anos, comparei a cor da minha mão com a de uma amiga, muito branca. Falei: ‘Nossa, minha mão tá negra’. E ela falou: ‘Como assim? Você é negro’. Comecei a fazer transição capilar e descobri que ele é cacheado, 3C. Parar de alisar teve tudo a ver com me inteirar sobre lutas sociais. Mas entrei em um limbo: alguns me achavam negro, outros, branco. Na internet, uma mulher negra de pele escura disse que pardo se dizer negro desrespeitava negros de pele escura. Só que eu não queria tomar o lugar de ninguém. Eu falava que era pardo. Pensava: branco não sou, porque branco não sofre racismo. Mas havia receio de dizer que era negro. Quando entrei na USP, o coletivo negro me convidou para fazer parte. Aquilo me deixou meio assim. Nas aulas, entendi o que é de fato ser negro, as hierarquias raciais e como o Brasil lidou com isso. E aí, não tinha mais como dizer que era pardo.
De onde vem o termo pardo?
“Pardo. Cor entre branco e negro. Próprio do pardal, dode parece lhe veyo o nome. Vid. Mulato.” A definição está no dicionário “Vocabulario portuguez e latino”, do século 18. Desde aquele período, o pardo está “entre” cores, o que traz a condição de não pertencimento racial. Aliás, pouca coisa mudou. No Houaiss atual, entre as definições, temos: “de cor escura, entre o branco e o preto” e “de epiderme escura ou muito morena”.
“O termo pardo já trazia uma ambiguidade. Ele tanto afastava a pessoa da escravidão, porque a colocava como fruto de um processo de miscigenação, quanto a aproximava, pois denotava que você tinha um ascendente negro, que também poderia ser africano”, explica Juliana Barreto Farias, professora-adjunta da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab).
Ao longo dos séculos, o pardo — por mais perto do branco que estivesse — sempre foi atrelado a estereótipos negativos, como de que “seria menos propenso ao trabalho”, e à condição de “mistura” entre o colonizador homem e a mulher negra escravizada, sistematicamente violentada. Condições a que ninguém quer estar associado.
O pardo/mulato era visto como a mula, gerado de duas espécies diferentes. A hierarquia racial também se dava em um sentido de ‘pureza de sangue’Juliana Barreto, historiadora
Mas no sistema escravagista, quem tinha pele mais clara acumulava alguns “privilégios”. Segundo o professor Dennis de Oliveira, da Universidade de São Paulo (USP) e militante da Rede Antirracista Quilombação, um deles era o de trabalhar na casa-grande.
Criou-se a ideia de que as pessoas que têm a pele um pouco mais clara acabam tendo oportunidade diferente de quem tem a pele mais escura. Mas, veja, eles foram resultado de um estupro [da mulher negra pelo branco]. Então, é complicado dizer que eles eram privilegiados, embora tenham uma condição social melhor.Dennis de Oliveira, professor da USP
As teorias raciais, importadas da Europa, tentaram, no início do século 20, dar um novo sentido a essa divisão. O pardo virou uma identidade de transição até que todos se tornassem brancos.
Em 1911, no 1º Congresso internacional das Raças, realizado em Londres, o antropólogo brasileiro João Baptista de Lacerda apresentou a tese de que, até 2011, a população mestiça e negra do Brasil seria extinta, por conta do “cruzamento racial” que acontecia no país. Um ideal eugenista e racista, que claramente não deu certo. “Era uma política de incentivar a mestiçagem como uma forma de apagar a presença negra”, diz Oliveira.
Com uma luta dos movimentos sociais pelo reconhecimento do ser negro no Brasil, vem a configuração que conhecemos hoje, de pretos e pardos definindo a população negra. Compreender essa estratégia, comenta Oliveira, passa pelo fato de que o racismo é estrutural. Ou seja, ele atravessa as experiências das famílias negras ao longo das gerações e pode ser muito doloroso para quem vivencia um “limbo racial”.
“A pessoa de pele um pouco mais clara pode achar que está isenta de sofrer as consequências do racismo. Só que ele não é apenas comportamental. Se os ancestrais, os pais, os avós tinham uma pele mais escura, já se atribui uma situação de dificuldade para que essa pessoa assuma uma ascensão social. Então, é preciso ver o pardo como negro não só na dimensão comportamental, mas a partir do lugar social que ela ocupa por pertencer a essa família negra”, diz Oliveira.

Pardo, negro de cor clara
Para tentar dar conta das diferentes experiências que pessoas negras de pele clara a retinta vivenciam, é comum encontrar a expressão colorismo. A teoria criada pela escritora e ativista estadunidense Alice Walker nos anos 80 estabelece que quanto mais clara a pele da pessoa, mais vantagens sociais ela tem em relação às pessoas de pele escura.
A filósofa e escritora Sueli Carneiro é uma das especialistas brasileiras que se opõem à ideia. Para ela, debater o colorismo diante das dinâmicas raciais no Brasil é “um tiro no pé”. “Me incomoda muito. Eu acho um tiro no pé, porque eu pertenço à geração que teve que se esforçar muito para construir esse capital político extraordinário constituindo a categoria negro como resultado da somatória de pretos e pardos”, disse ela durante um evento em junho.
Sueli Carneiro diz que quando a gente pensa em brancos, não pensa em grupo único. Há brancos com cabelo escuro, ruivo, pele morena. Mas, quando se pensa o negro, parece que não se pode pensar que também são diferentes, que têm pele retinta, clara, cabelo enrolado, crespo. Isso é uma das formas de nos prender a determinadas características para nos remeter a um mesmo lugarJuliana Barreto, historiadora
Para o professor Dennis de Oliveira, não faz sentido só a população negra ter essa subdivisão nos critérios oficiais de autoidentificação. “O Brasil é um país negro. E infelizmente há uma tentativa constante de se apagar a raça negra. Então, o pardo se reconhecer como negro denota consciência racial e que o país é um lugar não-branco”, afirma.
Como mostram os relatos dos três personagens no início desta reportagem, o reconhecer-se negro de pele clara alça o brasileiro autodefinido como pardo do mergulho da fronteira de identidade. “Não tinha como dizer que era eu pardo se eu estava passando pela discriminação e pelo olhar torto que as pessoas de pele escura estavam passando ali na faculdade. Nós éramos negros, e tínhamos que lutar juntos”, conta Thiago Torres, do perfil Chavoso da USP, sobre como passou a se denominar como negro de pele clara.
Esse é um processo íntimo e individual, mas que, alavancado por décadas de luta e de políticas de autoafirmação da negritude, vai ganhando força para transformar um país.
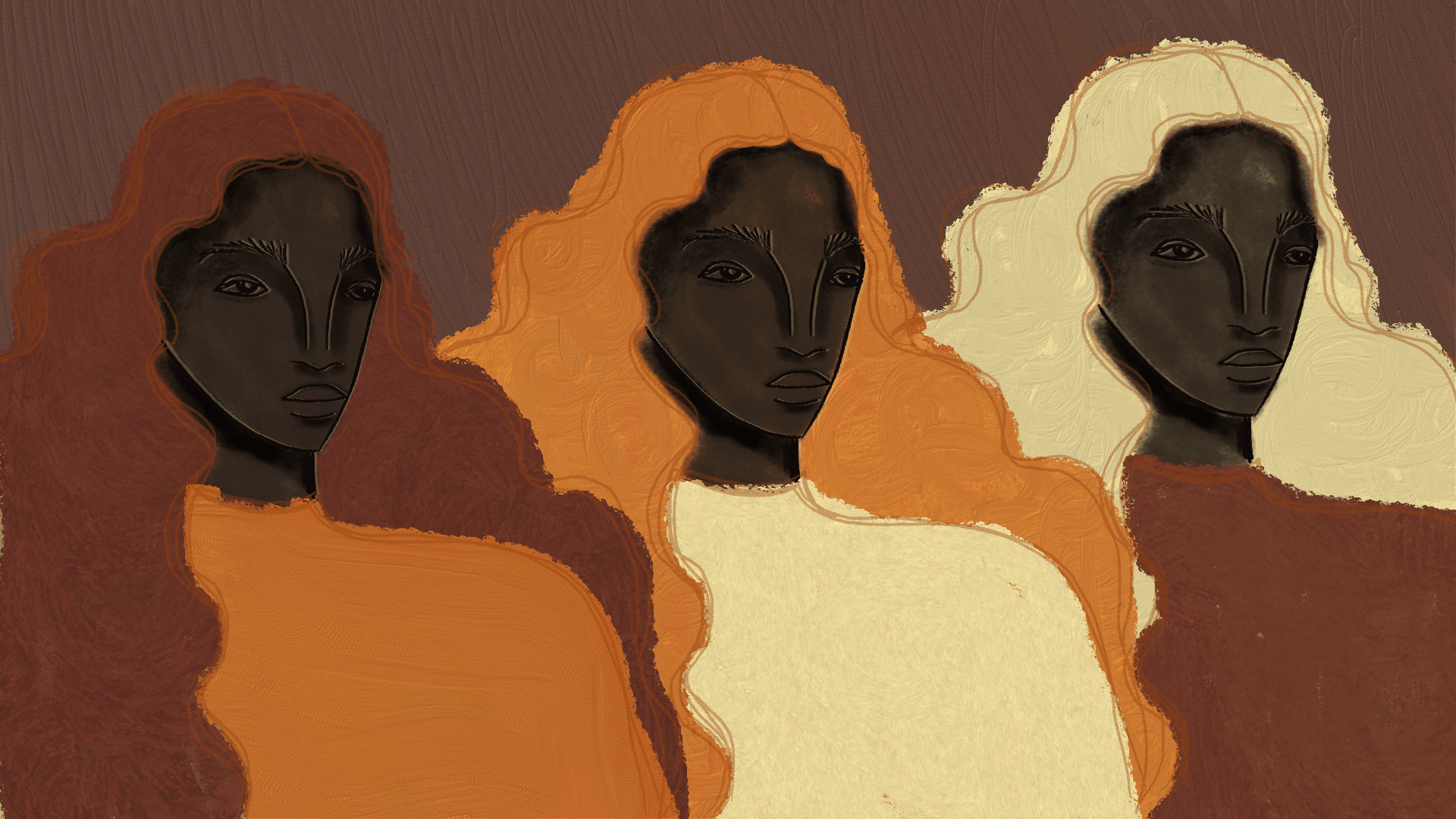
Quem é você na fila do IBGE?
Em 1976, o IBGE decide consultar o brasileiro sobre autodefinição de cor sem respostas pré-determinadas.
O levantamento daquele ano registrou 136 definições de cor, entre elas, “acastanhada”, “café com leite”, “bronze”, “castanha”, “jambo”, “pouco clara”, “pouco morena”, “puxa para branca”, “miscigenação”. Pelo menos 17 palavras levavam o termo “morena”. “Morena-parda”, “morena bem chegada”, “morena cor de canela”, e por aí vai.
É sobre ela que o jornal “Folha de S. Paulo” fez matéria, em 1995, dizendo que “Brasil quer ser chamado de moreno e só 39% se autodefinem como brancos”.
Em 1998, o IBGE, o número pulou para 143 “cores denominadas”. Entre elas, “canela”, “clarinha”, “meio-termo”, “misturada”, “pardinha”. Em comparação com 1976, o órgão mostrou aumento da quantidade de pessoas que se encaixavam nas categorias gerais branco e pardo, e redução “sensível” dos que se diziam morenos, pretos ou escuros.
Classificar é simplificar
Definir o que é pardo ou questionar as pessoas sobre a própria cor ou raça agora não é a mesma coisa que tentar explicar quais eram as categorias raciais no passado. A classificação em si é uma simplificação da realidade.
“Os significados e usos das categorias raciais não são fixos”, explica a historiadora Juliana Barreto Faria. “Elas são construídas não só pela cor da pele nem apenas do fenótipo.” Também são levados em conta, por exemplo, a ancestralidade, a origem e o tom da pele da pessoa.
Mas antes do interesse de Estado pela livre autodefinição de cor de seus cidadãos, as opções eram limitadas. Em 1872, antes da abolição da escravatura, portanto, as categorias eram branco, preto, pardo e caboclo. Em 1890, já na República, troca-se o pardo por mestiço para nominar o resultado da união de pretos e brancos. Nos censos de 1900 e 1920, o IBGE não coletou dados sobre cor.
Em 1940, uma categorização curiosa: além de brancos, pretos e amarelos – por conta do processo de imigração japonesa no país – a quarta categoria se tornou um tracinho no preenchimento: 20% da população foi parar nesse traço, e a categoria pardo voltou ao Censo de 1950. Trinta anos depois, a pergunta sobre raça e cor ficou de fora.
Hoje, o respondente, por autodeclaração, opta por: branco, pardo, preto, amarelo e indígena.
Pardo x moreno
Na análise dos resultados de 1998, o IBGE fez um comparativo sobre o nível de consistência da autoidentificação. Enquanto quase todos os brancos e amarelos se identificavam da mesma forma na pergunta aberta e na fechada, apenas 34% dos pardos se viram do mesmo jeito nas duas abordagens. Aqui, o “moreno” aparece novamente como uma saída: 77% dos que escolheram o termo na pergunta aberta tiveram que optar pela cor parda, na fechada.
O pertencimento à identidade parda ou preta varia também segundo o local. “Eu sou do Rio e moro em Salvador. Me definir como parda na Bahia é diferente de fazer isso no Rio”, exemplifica Juliana, que se identifica como negra de pele clara.
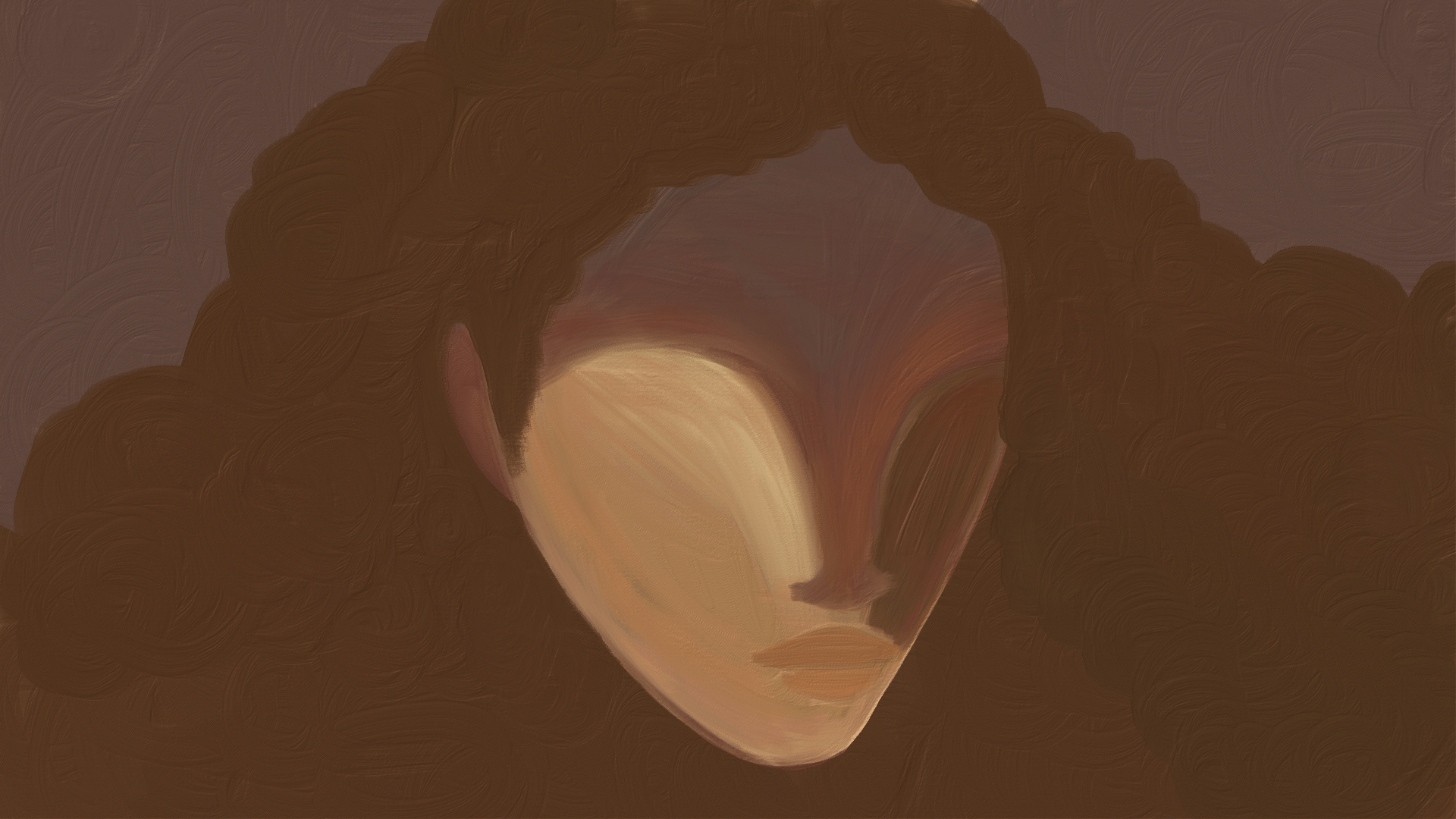
“O movimento negro, historicamente, sempre trabalhou com a ideia de que a condição do negro está para além da mestiçagem. O lugar dele sempre foi de exclusão social. Por isso que o termo negro é um guarda-chuva que abarca todas as pessoas descendentes dos africanos escravizados”. Dennis de Oliveira, professor da USP e militante da Rede Antirracista.
Cada um no seu processo